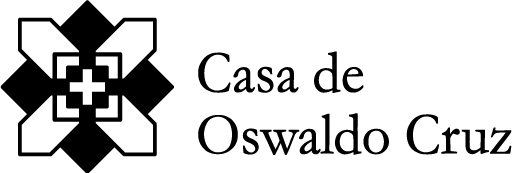Nem mesmo o reconhecimento de que a pobreza e as más condições sanitárias eram os principais fatores que levavam à propagação de doenças no Caribe impediram que ideias como a de imunidade racial ganhassem espaço no discurso médico local no começo do século 20. A constatação é da pesquisadora Tara Innis, da University of West Indies (Trinidad e Tobago), que participou da mesa Febre Amarela nas Américas no workshop Doenças Tropicais: uma Perspectiva Histórica, realizado pela Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e a Universidade de York (Reino Unido) de 1º a 3 de julho.
A partir de três grandes epidemias em Barbados entre 1907 e 1918, a pesquisadora analisou como as ideias sobre raça e a terminologia racial ligada à imunidade se estabeleceram nos discursos sobre doenças transmitidas por vetores, como febre amarela, leptospirose e malária. “Ideias sobre imunidade racial em ‘ambientes de doença’ levaram mais tempo para mudar e indiscutivelmente não foram completamente excluídas no âmbito do discurso em torno da incidência de certas enfermidades em grupos raciais”, afirmou Tara.
Ela analisou os estudos levados a cabo durante as epidemias de febre amarela de 1907-1909 pelo patologista Rubert Boyce, um ferrenho defensor da tese de que a transmissão da doença não estaria relacionada às ditas questões raciais. Em 1908, a incidência de febre amarela havia supostamente diminuído. No entanto, Boyce desconfiava que a doença continuava a afligir a população e que os novos casos estavam sendo erroneamente diagnosticados como “gripe gástrica”.
“Uma vez que os primeiros casos ocorreram entre a população negra, é possível que não se tenha feito diagnóstico de febre amarela muito embora alguns médicos locais obviamente suspeitassem dessa possibilidade”, afirmou Tara. O fato de a população negra, tida como imune à enfermidade, ter sido a mais atingida pela epidemia de 1907-1909 foi considerado intrigante na época, mas não surpreendeu Boyce. O patologista estava confiante de que a febre amarela se tratava de uma doença de “recém-chegados”.
Sobre sua experiência em Barbados, ele escreveu: “Trata-se de uma observação velha e repisada a de que os negros [vindos da] África Ocidental raramente contraem febre amarela, em comparação com os brancos. Por outro lado, no ano passado, 1909, durante a epidemia de febre amarela em Barbados, os mais afetados foram os negros nativos, embora esses mesmos negros fossem descendentes dos africanos imunes. Eles, portanto, tornaram-se não-imunes e suscetíveis nesse meio tempo, devido ao fato de que a febre amarela deixou de ser endêmica em Barbados”.
A febre amarela nas relações dos Estados Unidos com o Caribe e a América Central
Na mesma mesa, Talia Rebeca Haro Barón, da Universidade Autônoma de Barcelona (Espanha), apresentou o trabalho Políticas para o combate à febre amarela na Guatemala em princípios do século 20.Em sua apresentação, ela analisou cartas que retratam as missões médicas enviadas aos portos da Guatemala por governos locais dos Estados Unidos. Em razão de uma epidemia devastadora de febre amarela em portos estadunidenses, diferentes entidades do país mostraram maior interesse pelo estudo, a vigilância e o controle de doenças que se espalhavam com o crescente intercâmbio comercial com o Caribe. Escondidos nos barcos a vapor, os mosquitos disseminavam a febre amarela entre os portos.
Em sua apresentação, Elaine Fay, da Universidade da Pensilvânia (Estados Unidos), mostrou como as ideias em torno da febre amarela, do meio ambiente e do nacionalismo se manifestaram na Flórida, um território cujo status tropical era questionado. De acordo com ela, em meados do século 19, médicos norte-americanos e residentes do recém-adquirido Estado da Flórida discutiam em que medida o clima do local era tropical.
A palestrante citou o médico John Monette, que, ao escrever sobre um surto de febre amarela no Estado em 1820, defendeu que a doença adquiriu caráter epidêmico “a partir do primeiro minuto depois que os Estados Unidos assumiram o controle do território”. A causa não era a soberania norte-americana sobre a região em si, mas o aumento das relações comerciais com Havana e o fluxo de pessoas vindas do norte para as cidades que registraram a epidemia.
Médicos italianos e a febre amarela
O temor causado pela febre amarela ao olhar estrangeiro foi o tema da apresentação de Vanessa Costa e Silva Schmitt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em conjunto com Rober Ponge, ela analisou as referências à doença nas memórias do médico italiano Riccardo D’Elia, que viveu no Brasil de 1891 a 1933, ano de sua morte.
Antes de estabelecer-se de vez no país, D’Elia passara pelo porto do Rio em 1888, mas decidira seguir viagem até Buenos Aires. Um dos motivos eram as “más notícias sobre o clima” do Rio, cidade onde, segundo seus relatos, “a febre amarela grassa, fazendo milhares de vítimas por mês, preferentemente estrangeiros, não poupando nem os médicos. Mais tarde, ele viria a relativizar os perigos da doença, a partir de medidas implementadas para seu controle no país.
Outro personagem italiano foi tema do trabalho apresentado por Daniele Cozzoli, da Universidade Pompeu Fabra (Espanha): o bacteriologista Giuseppe Sanarelli. Com formação em microbiologia no Instituto Pasteur, em Paris, Sanarelli foi nomeado diretor do recém-criado Instituto de Higiene Experimental de Montevidéu em 1895. Mais tarde, ele trabalhou em pesquisas para determinar as causas da febre amarela na capital uruguaia e no Rio de Janeiro.
Em sua apresentação, Cozzoli mostrou como o surgimento da medicina tropical estava relacionada à emigração para a América e à expansão colonial italiana no norte da África, na visão do pesquisador do país europeu.