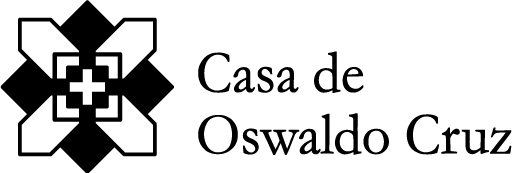Na quinta-feira, véspera de Carnaval, o endocrinologista João Paulo Botelho Vieira Filho deu uma pausa nos afazeres como preceptor do Centro de Diabetes da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp) e nos atendimentos em seu consultório particular, no Jardim Paulista, bairro nobre da cidade. Mas não para esticar, ainda mais, o feriado já prolongado. Na verdade, teria pela frente muitos dias de trabalho nas Terras Indígenas Sangradouro e Volta Grande, no Mato Grosso, onde os Xavante Awê-Uptabi o aguardavam. A figura longilínea, de tez alva, fala pausada e sem meias palavras nos diagnósticos, eles conhecem bem. Desde 1976, o médico atende voluntariamente a comunidade, em uma visita anual que pode se estender por mais de duas semanas.
Aos 87 anos, Vieira Filho se embrenha por estradinhas muito estreitas, aos solavancos na carona da motocicleta, para chegar às aldeias, onde troca cama por rede, demonstrando disposição física e facilidade para lidar com o improviso. São temporadas que pedem mais do que uma mudança de hábitos. Cobram também um preço emocional, pois testemunhar precariedades e dores e saber-se, às vezes, limitado para mudar a realidade pode ser muito frustrante. “Presenciei momentos tristíssimos de Xavantes, entre 40 e 58 anos, sendo retirados de seus colchões pelos filhos e colocados em cadeiras, amputados por causa do diabetes”, desabafou por telefone, no início de março, um dia após retornar da viagem ao Mato Grosso, onde também visitou os Bororo na Terra Indigena Meruri.
Recentemente, o endocrinologista doou documentos, fotos, correspondências, filmes e gravações de sua trajetória para a Casa de Oswaldo Cruz, que detém o maior acervo de história da saúde pública e da ciência do país. Antes de estar disponível para consulta pública, o arquivo pessoal do endocrinologista vai passar por um processo comum ao material doado à instituição: higienização, reacondicionamento, identificação, classificação e descrição. As informações sobre os itens serão inseridas na Base Arch, repositório sobre o acervo arquivístico permanente da Fiocruz, que hoje reúne cerca de 120 fundos e coleções, entre eles, quatro nominados para o Programa Memória do Mundo da Unesco: Fundo Oswaldo Cruz, Fundo Carlos Chagas, negativos de vidro do Fundo Instituto Oswaldo Cruz e Fundo Fundação Rockefeller.
Nas aldeias, diabetes têm causado amputações e diálises
Entre os Xavante de Sangradouro e Volta Grande, Vieira Filho contabiliza, em anos recentes, 11 amputações de membro inferior decorrentes do controle inadequado da doença, que pode exigir aplicações diárias de duas a três doses de insulina. Em fevereiro, Olga, 40, perdeu parte do pé direito; e Cornélio, 58, parte da perda direita. Com a amputação, ganham uma sobrevida de até cinco anos. Mas há quem tenha morrido em um prazo bem menor, que não chega a um ano, como Zulmira, 48, e João, 52. Em 2002, os Xavantes perderam um grande líder para o diabetes: Mário Juruna, primeiro indígena eleito deputado federal, morreu aos 58 anos, em decorrência de complicações da doença.
“Populações indígenas são geneticamente mais suscetíveis ao diabetes. Elas precisam de um programa de prevenção específico para a doença, como existe em outros países, como Estados Unidos e Canadá, com efetiva queda na incidência e na prevalência da enfermidade”, frisa o médico, repetindo um alerta que faz há mais de uma década. Estudo científico publicado na Human Molecular Genetics, que tem Vieira Filho como um dos autores, revela que uma alteração no gene ABCA1 nos povos nativos das Américas e seus descendentes aumenta a reserva de energia das células. Embora seja algo favorável em tempos de baixa oferta de alimentos, essa transformação está relacionada ao aparecimento de doenças crônicas, como obesidade e diabetes, esclarece o endocrinologista, consultor médico dos Xikrin do Cateté; dos Paracanã Apyterewa do Xingu; dos Suruí Aikewara; dos Xavante Awê-Uptabi de Sangradouro e Volta Grande e dos Bororo de Meruri.
A predisposição genética, associada a mudanças no consumo de alimentos, tem feito um estrago grande na saúde dos indígenas. “Eles se alimentavam de mandioca, feijão, batata, cará e tinham peso normal. Não entrava comida de fora nas aldeias. Depois, vieram, nas cestas básicas, produtos como açúcar cristalizado e arroz branco. E passaram a consumir refrigerantes e doces. Assim, ganham peso e, com resistência à insulina, ficam diabéticos. Já vi Xavante com 15 anos com diabetes mellitus tipo 2”, diz o especialista, chamando atenção ainda para a redução na atividade física.
Complicações do diabetes já causaram, além de amputações, diálises e problemas de visão. A doença requer um acompanhamento diário. Por outro lado, a adesão ao tratamento não é nada simples, pois há dificuldade para a aplicação regular da insulina e na conservação da substância. “O organismo deles não responde aos comprimidos como o nosso, que levamos 10, 15 anos para entrar na insulina injetável Eles vão direto para injeção”, explica o médico, contando que vão para a diálise também mais rapidamente.
Vieira Filho foi pioneiro na descrição do diabetes mellitus tipo 2 entre os Xavante. Segundo dados colhidos na última viagem do endocrinologista, em fevereiro, em uma população formada por 2.879 adultos, 221 estão em tratamento de diabetes mellitus tipo 2. A maioria é de mulheres: 148. Na população em geral, a prevalência é de 20% – sendo 27% entre as mulheres e 14% entre os homens -, proporção bem maior do que apontada pela pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2021, do Ministério da Saúde, que revelou uma frequência do diagnóstico médico de diabetes de 9,1% no conjunto das 27 capitais mais Distrito Federal.
“A realidade era muito pior do que eu havia imaginado”
A primeira vez que o endocrinologista pisou em uma terra indígena foi em julho de 1965. Aos 29 anos, já formado, aceitou o convite para participar de um projeto de assistência médica em aldeias, tocado pela Associação pelo Desenvolvimento do Vale do Araguaia (Adeva) com a EPM/Unifesp. Embarcou em um avião do Correio Aéreo Nacional e foi recebido pelo sertanista Orlando Villa-Bôas (1914-2002) e integrantes dos Kamaiurá, no Parque Nacional do Xingu, criado no início daquela década. A iniciativa não foi adiante, mas, impressionado com o que presenciara, o endocrinologista não pensou duas vezes ao ser contatado por um padre da região, que buscava um médico para atuar na área.
“A realidade era muito pior do que eu havia imaginado. À noite, iam me chamar porque alguém estava morrendo. Havia varíola, sarampo, gripe, malária, paralisia infantil entre regionais”, recorda o endocrinologista. Diante de tamanha escassez de assistência médica, conta que fazia de tudo um pouco e que foi pioneiro na vacinação contra sarampo entre os índios brasileiros da Amazônia abaixo do Equador. A partir de então, prestou atendimento para várias tribos indígenas, em vários pontos do país. Em 1966, foi ter com os Gaviões do Oeste, Parkateyê, da reserva de Mãe Maria na região do rio Tocantins e, dois anos depois, prestou assistência aos Gaviões do Leste Kuikateyê, removidos do Maranhão por pressão de uma madeireira invasora. Na mesma época, prestou atendimento também aos Xikrin do Cateté, no Pará, e Suruí Aikewara, rotina que mantém até hoje, anualmente.
Em trecho da publicação na qual narra suas reminiscências com os indígenas, ele descreve um episódio do que intitulou de violência biológica: “Os Paracanã Apuiterewa do rio Bom Jardim foram contatados na cabeceira do rio Bacajá, em 1983, e na cabeceira do Rio Bom Jardim, em 31 de março de 1984, sem malária nos contrafortes da Serra de Carajás. Encontrei-os em dezembro de 1984 com 100% da população com malária introduzida pelos sertanistas ou civilizados, em estado deplorável de sofrimento pós-contato, magros, vencidos, tristes e enfermos”.
Daí em diante, o vínculo entre Vieira Filho e os indígenas foi se fortalecendo. Antes do doutorado em endocrinologia na Unifesp, fez pesquisas sobre integrantes de várias etnias para as quais prestava assistência. Ao longo de décadas, o professor adjunto da Unifesp atuou como consultor médico contratado e também voluntário, reunindo uma experiência e um aprendizado sobre a cultura desses povos originários que tornam a sua voz diferenciada quando o tema é saúde indígena. Por mais de uma vez, abrigou em sua casa indígenas que precisavam de um tratamento de saúde mais especializado, como Dionísio, da etnia Karipuna, do Amapá; Bartolomeu, da etnia Xavante; e Tchucoré, da etnia Gaviões.
Outros indígenas também aportaram por lá para estudar. Como Constâncio Ubuhu, técnico de enfermagem Xavante, que foi preparado no Centro de Diabetes da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. “Estamos sempre em comunicação pelo whatsapp, conversando sobre os doentes”, relata o médico, que, no currículo, tem cerca de 100 artigos em periódicos, além de apresentações, trabalhos técnicos, resumos publicados em anais de congressos, apresentações na mídia, publicações em redes sociais websites e blogs, um livro – Reminiscências de um médico na convivência com índios da Amazônia durante 41 anos (1965-2006) – e outras 62 produções técnicas de diversas naturezas.
Medicina no sangue
Bisneto, neto e filho de médico, Vieira Filho praticamente cresceu dentro de um hospital. O pai, dermatologista, dirigia o Serviço do Pênfigo Foliácio do Estado de São Paulo, onde demonstrava preocupação com os portadores do distúrbio autoimune, que causa bolhas na pele e nas mucosas. À época, assim como os portadores de lepra, os portadores da doença eram alvo de segregação, preconceito e isolamento. “Como resolver a situação de numerosas pessoas de classes rurais, de desprotegidos da sorte, afugentados e corridos por uma moléstia que infunde terror?”, escreveu o pai do Vieira Filho, em artigo publicado no jornal Correio Paulistano, em 12 de agosto de 1939.
“Minha mãe sempre apoiou as minhas viagens às terras indígenas e meu pai sempre foi muito bom. Ele via os penfigosos abandonados na estrada, sem tratamento, e insistiu com Adhemar de Barros (1901-1969), interventor federal e governador de São Paulo e que era paciente dele, para fundar um hospital para acolher os doentes acometidos pela doença. Além disso, meu avô, uma vez por semana, atendia gratuitamente os mais pobres e fornecia medicamentos”, conta Vieira Filho, acrescentando que o avô, materno, Alfredo Schürig (1884-1941), colaborou com recursos financeiros para a construção e a manutenção da Santa Casa de Jacareí, em São Paulo.
Assim como o pai e os avôs, o endocrinologista se preocupa com populações que estão à margem na assistência médica. Considera que “não faz nada demais” ao atuar há tantas décadas como consultor em terras indígenas, onde, por exemplo, acompanha com preocupação a disseminação do diabetes mellitus tipo 2 e os males da contaminação por mercúrio. Segundo o médico, o solo da Amazônia, que já contém alto nível da substância, em razão de decomposição de rochas, atinge patamares alarmantes em razão dos garimpos, especialmente, além das barragens e dos desmatamentos. O mercúrio corre para os rios, contaminando água e peixes, que, uma vez, consumidos pela população, fazem a substância se acumular nos organismos humanos, afetando vários sistemas, como o nervoso, o hepático, o digestivo e o pulmonar, provocando desordens, coma e mortes.
A exposição humana ao mercúrio é a maior do mundo na Amazônia entre as populações indígenas e ribeirinhas, alerta o médico, acrescentando que testes neuropsicológicos em crianças e adolescentes da região revelaram comprometimento significativo. Os metais pesados promovem um tipo de modificação química (metilação) no DNA, que, a depender do nível, está associada ao surgimento de tumores e pode impactar a saúde de gerações atuais e futuras, explica Vieira Filho, para quem os indígenas deveriam receber uma compensação pelo poder público: “Cabe uma indenização. Seria um exemplo para que nunca mais o governo brasileiro venha a se omitir na proteção de qualquer população brasileira. O direito à saúde está na constituição brasileira”.
O impacto da mineração nas comunidades indígenas, Vieira Filho conhece muito bem. Ele foi consultor médico das comunidades Xikrin, Gavião e Parakanã no Projeto Ferro Carajás, em convênio da Funai e da Companhia Vale do Rio Doce, e também do Banco Mundial no Projeto Polonoroeste. “Fui indicado como consultor responsável pelas populações indígenas”, diz o endocrinologista, que, já na década de 1980, chamava atenção para problemas detectados nas aldeias. Documento de avaliação do convênio Funai e da Companhia Vale do Rio Doce, datado de 3 de dezembro de 1985 e que traz João Botelho como um dos seis signatários, diz: “Torna-se claro que a garantia dos territórios, de uma assistência eficaz à saúde e de uma participação efetiva dos índios nas decisões que lhes afetam, somente será possível com uma reestruturação do órgão tutor e a formulação de uma política indigenista que defenda realmente os interesses e os direitos indígenas. Neste processo, é imprescindível a participação das comunidades indígenas, bem como das entidades científicas e de apoio à causa indígena e da sociedade civil”.
“Sem terra, eles não sobrevivem”
Sobre as políticas públicas de saúde indígena já adotadas no país, Vieira Filho avalia que houve avanços, após problemas como os ocorridos durante a gestão do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), mas se preocupa com a falta de um atendimento sistemático. “Acho que houve uma melhoria, mas não o suficiente porque a saúde é algo multidiscisplinar e precisa de muitos envolvidos, não exclusivamente de um órgão”, diz. “Aprendi como consultor do Banco Mundial que não adianta criticar por um tempo e depois desaparecer. É preciso monitorar, ajudar os outros a trabalhar”, orienta, destacando a importância do trabalho de enfermeiros no atendimento aos indígenas.
Perguntado sobre o significado da terra para os indígenas, responde: “A terra é o supermercado deles. Dela tiram a fruta, as raízes, as roças de sobrevivência, as caças. Eles necessitam da terra, e o Brasil tem terra suficiente. Sem terras, eles não sobrevivem”, diz, frisando que eles têm de ter as terras demarcadas e homologadas pelo governo. Eles precisam de terras, de educação, de assistência à saúde”, enfatiza Vieira Filho.
Após tantos anos de convivência, Vieira Filho é considerado parte da família. “Parentesco, para eles, é muito mais o laço social do que o biológico. Já na nossa cabeça, tudo é biológico”, diz o endocrinologista, várias vezes lembrado e homenageado no batismo de um novo membro da comunidade. Nas aldeias onde atende, há pelo menos quatro xarás. Um deles, filho de Bartolomeu, da etnia Xavante. Ele conta a novidade para Vieira Filho, em carta escrita em 5 de maio de 1996, que integra o arquivo pessoal doado à Casa de Oswaldo Cruz. “A Fabíola já deu a luz nascendo um menino que denominou-se João Paulo Horodiwê em homenagem pelo seu trabalho boníssimo e descoberta da doença do alimento fraco que é arroz”, escreve Bartolomeu, referindo-se à diabetes.
Entre outros aprendizados com os indígenas, o endocrinologista destaca o cuidado com as pessoas de mais idade. “Eles nunca abandonam os velhos. Vi indígenas levando o pai velho nas costas, pois eles não são de usar cavalos, carroças”, avalia Vieira Filho, que também tem ensinamentos: “Não vivo do passado. Escrevo sobre o passado para mostrar as dificuldades, mas as coisas estão mudando. Meu pai dizia: estou feliz porque que vivo o presente. Eu também procuro viver o presente”, diz ele, que tem mais duas viagens para 2023. Em julho, o destino é a comunidade dos Xikrin do Cateté, no Pará; e, entre setembro e outubro, segue para a Terra Indígena Apyterewa, dos Parakanã.