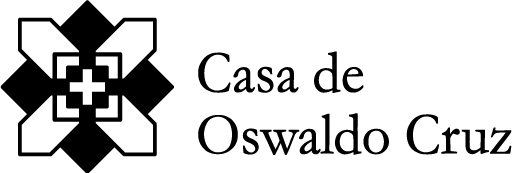Importante contribuição para a criação do conhecimento botânico e médico, um inventário da flora do sudoeste da Índia, o Hortus Indicus Malabaricus, com desenhos e descrições de cerca de 720 espécies, foi publicado no século 17, com autoria creditada a um naturalista europeu que, à época, ocupava uma posição de comando na colônia holandesa nas Índias Orientais. Mas estudos evidenciaram que a obra, na verdade, foi construída por meio de interação entre povos, na qual os atores não-europeus desempenharam um relevante papel.
O caso é um dos vários citados pelo historiador das ciências Kapil Raj, pesquisador e professor na École des Hautes Études en Sciences Sociais (EHESS), em Paris, para ilustrar as novas histórias surgidas a partir de abordagens mais recentes adotadas pelo campo, como a sua teoria da circulação de conhecimento. Elas partem de uma perspectiva relacional, mais inclusiva, atenta às interações e negociações entre os diversos sujeitos – mulheres, escravizados, indígenas, entre tantos outros – e personagens de diferentes nacionalidades e culturas. Esses múltiplos agentes compõem as redes de curto e longo alcance nas quais o conhecimento circula, aqui não mais consideradas vias de mão única.
“Como historiadores, é nosso papel trazê-los [outros atores, como os não-europeus] para dentro história”, diz Raj, em entrevista concedida no Brasil, onde veio ministrar um curso sobre as novas perspectivas na História Global da Ciência aos alunos do Programa de Pós-Graduação da História das Ciências e da Saúde (PPGHCS), da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). Durante as aulas, ele destacou a história conectada, a história cruzada e a perspectiva circulatória, entre outras abordagens relacionais adotadas por historiadores das ciências.
O pesquisador investiga a construção do conhecimento científico no contexto Europa e Sul da Ásia, a partir de uma perspectiva circulatória. É um modo de problematização que está na contramão do modelo difusionista surgido na década de 1960, baseado na ideia de que a Europa é a origem da ciência moderna e o ponto de partida da disseminação do conhecimento científico para os demais países do mundo. Enquanto essa abordagem eurocêntrica considera o não-ocidental como um receptor passivo do conhecimento criado e transmitido de forma unilateral pelo europeu, a teoria da circulação, por exemplo, joga luz sobre a agência dos nativos e se detém no saber construído a partir das relações entre diferentes povos e culturas, em um encontro do local com o global. Confira os principais trechos da conversa.
Você e mais dois historiadores brasileiros (Matheus Alves Duarte da Silva e Thomás Haddad) lançaram este ano um livro (Beyond Science and Empire) que nos dá uma visão geral da História das Ciências, desde o modelo difusionista de George Basalla, na década de 1960, aos dias atuais. Nele, vocês argumentam que, apesar dos avanços na área, os estudos raramente têm questionado a ideia de que a ciência moderna foi criada na Europa Ocidental. Por que isso ainda ocorre?
Porque nós ainda não publicamos muito. Antigamente, nós mesmos adotávamos essa perspectiva eurocêntrica sobre a origem e a produção do conhecimento. Se olharmos para os estudos publicados há 40 anos, o que estávamos fazendo, de certa forma, era emular o Ocidente. Veja como a atuação da Fiocruz, especialmente em relação à peste bubônica, no início do século 20, foi analisada: de um modo em que as ideias adotadas pela instituição tinham sido todas trazidas da França, de Pasteur, seguindo o modelo difusionista. Mas, por exemplo, Matheus [Alves Duarte da Silva], em tese [sobre produção e circulação de saberes microbiológicos entre Brasil, Índia e França] defendida em 2020, mostrou que algo mais aconteceu aqui. Uma outra história, que transformou a nossa forma de olhar e não faz parte do modelo difusionista, foi então contada. Ele demostrou o tanto que Oswaldo Cruz e a instituição fizeram, realizando contatos com a Índia e a Itália, por exemplo. Claro que a França também esteve presente, mas o papel dela foi muito mais relativo do que o lugar central apresentado em estudos anteriores. É uma nova história, que evidenciou como o Brasil constituiu as suas próprias redes de trabalho e produziu conhecimento. Então, são novas histórias, novos modos de fazer as coisas. E é mais recentemente que estamos fazendo esse trabalho. Antes, nós mesmos falávamos: Ok, o modelo de ciência moderna é ocidental.
Esse novo modo de fazer História, seja no Brasil, na Índia, em países da África, tem uma boa recepção na Europa Ocidental e nos Estados Unidos?
Sim, mas há muita resistência. Um livro meu foi recusado por inúmeras editoras norte-americanas, até que uma delas decidiu publicá-lo. Mas tem outra questão: o mundo mudou. O Ocidente não é mais o Ocidente dos anos 1960. Muitos imigrantes indianos, chineses, mexicanos fazem parte da composição dos Estados Unidos atualmente. São pessoas que estão nas universidades. E elas não querem essa história única, essa ideia de que tudo vem do Ocidente e que todos os demais países não têm nada a dizer. Então, essa hegemonia também está sendo quebrada por dentro.
Em seus estudos, você analisa a construção do conhecimento a partir da circulação, perspectiva que questiona o modelo difusionista, que diz que a ciência foi originada no Ocidente e disseminada para o “resto” do mundo. Do que trata essa abordagem e como ela pode contribuir para a História Global da Ciência?
O conhecimento circula. Se ficasse apenas na minha cabeça, não seria conhecimento. Pelo menos duas pessoas têm que compartilhar alguma coisa para ser considerado conhecimento. Mas circulação já não significa apenas mobilidade. A circulação em si, para mim, é uma problemática de pesquisa. Como as coisas circulam? O que acontece quando elas se movem? Você precisa de instrumentos, de pessoas, de toda sorte de coisas diferentes para o conhecimento circular. Quais investimentos precisam ser feitos? Quais mudanças que ocorrem quando conhecimentos, pessoas, livros e práticas científicas se deslocam? Eu olho para o que acontece quando o conhecimento circula: interações, negociações, resistências, dinâmicas de poder. Muitas vezes, o conhecimento é produzido no processo mesmo de circulação. Por exemplo: estou aqui no Brasil, meu computador quebrou. Preciso de alguém para consertar o meu computador, mas o tipo que uso não existe no Brasil. Quem for consertá-lo, vai usar o conhecimento que tem sobre como computadores funcionam. A pessoa vai resolver o problema da maneira dela, e novos conhecimentos estão sendo formados dessa maneira. Para mim, estudar a circulação é ver como o conhecimento se movimenta e se transforma e quais são essas mudanças. Quando o conhecimento se move, novas metodologias e consensos são formados. E a cada novo consenso, há novos compromissos e negociações. É uma circulação do conhecimento, não uma difusão da Europa para os demais países.
E como gênero e raça estão incluídos nessa nova abordagem?
É também uma questão de quem participa do processo de construção do conhecimento. Porque se você fala sobre circulação e sobre o fato de que o conhecimento muda à medida que se move, que é renegociado, então, esse é um lugar diferente. Quem é a pessoa com quem você entra em contato? Se você, brasileira, vem até mim, isso significa que você conta, mas eu conto também. É uma nova parceria a cada vez. Claro, o que acontece é que muitas vezes você me cita, mas eu não cito você. Há muitas pessoas que ignoram os técnicos, por exemplo, mesmo dentro de um laboratório no Ocidente, onde muitas pessoas estão trabalhando, mas apenas uma assina o artigo. Isso também é circulação, não é apenas sobre Índia e Brasil, Europa e Brasil, mas sobre a circulação em pequenas escalas. Ocorre também quando se fala sobre botânica, mas não sobre os coletores. O coletor tem um papel muito importante porque sem ele não é possível se fazer nada.
Como os indígenas, por exemplo, tão invisibilizados.
Exatamente. Quando falo dos coletores eu me refiro a todas essas pessoas. Sem elas não se pode ir a lugar algum, pois elas sabem quais são as plantas e como usá-las. Como historiadores, é nosso papel trazê-los para dentro da história. Há hierarquias, mas cabe a nós trazê-las à tona e mostrar quais são as histórias por trás disso.
Qual a importância de se estudar História das Ciências?
A ciência ocupa hoje um lugar central nas nossas sociedades. É a maneira pela qual, através da qual ou o prisma pelo qual não apenas vemos a sociedade, mas também julgamos as coisas. É uma forma de distinguir entre o que é válido e o que não é válido. E mesmo em sociedades que se consideram não-científicas, os critérios para julgar as coisas são científicos. Em um mundo como o nosso é muito importante saber o que é e como olhar e pensar sobre ciência porque, caso contrário, nos tornamos prisioneiros. Aqui no Brasil, por exemplo, há um movimento anticiência muito forte, certo? Então, você precisa ter as ferramentas para pensar sobre o que é ciência ou o que pode ser considerado ciência, em vez de mistificá-la ou demonizá-la. É fundamental sabermos o que é ciência. É preciso ter não apenas algum conhecimento, mas conhecimento crítico para poder navegar em nosso mundo.
Você citou o movimento negacionista no Brasil. Acompanhamos durante a pandemia de Covid-19 o quanto ele foi nocivo, com decisões desastrosas do governo federal à época. Ainda assim, há narrativas atuais sobre esse passado recente que dão um tom positivo à atuação dos gestores.
Em certo sentido, a história é a chave para compreender o presente, mas também para construir o futuro. Tentam de fato reescrever o passado, o tempo todo, né? E por isso precisamos muito fortemente da História das Ciências porque a política está, de certa forma, reescrevendo o passado e a história das ciências. Os políticos usam a ciência para reencontrar o passado e determinar o que são o presente e o futuro.