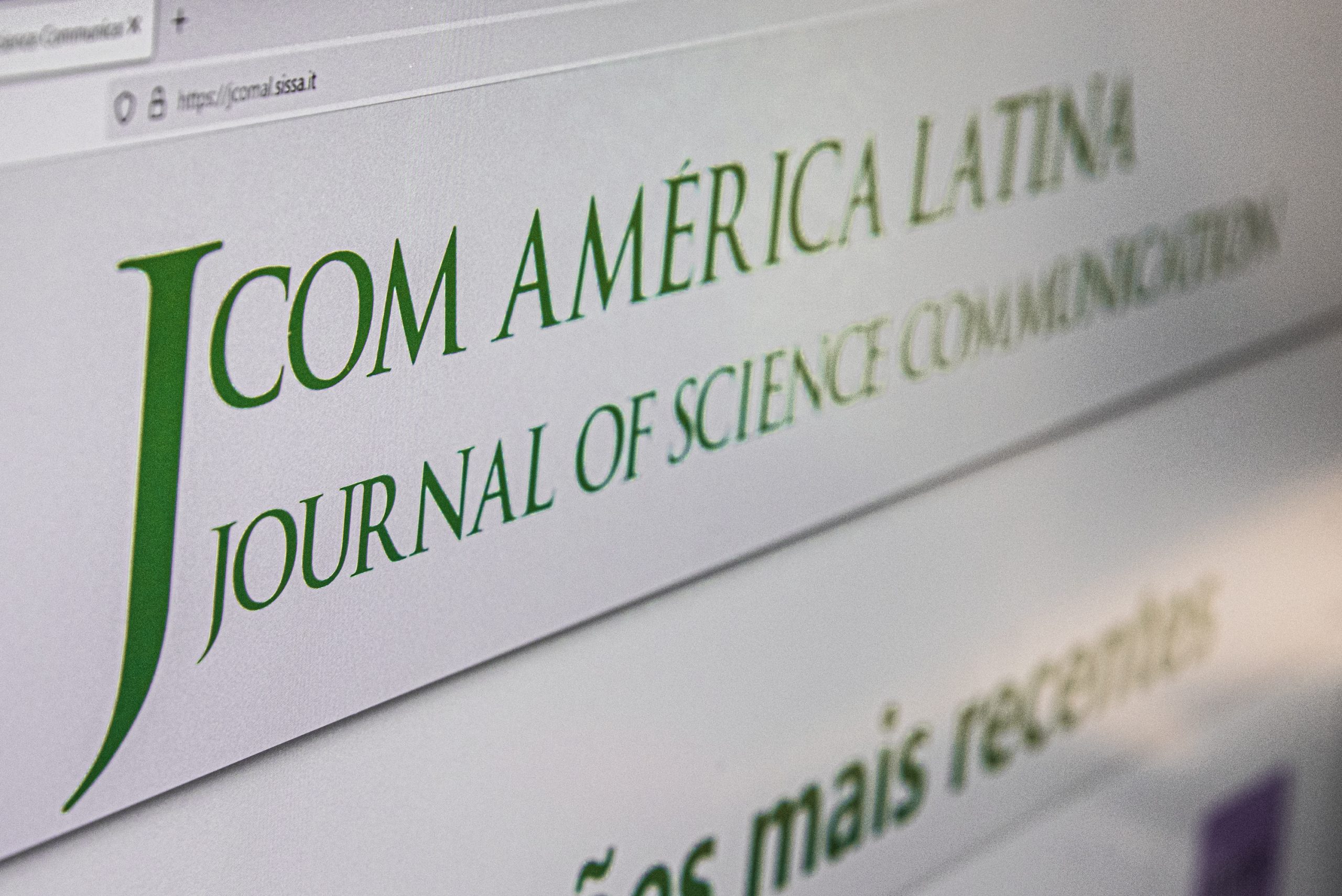Artigo na revista HCSM analisa historicamente o uso e o comércio das substâncias no país, objeto de projeto de lei que flexibiliza o controle
| Arte:Silmara Mansur |

Por Karine Rodrigues
“A deterioração ambiental vai muito além da poluição industrial. Há outras formas de degradação, tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais, que constituem a poluição da pobreza ou do subdesenvolvimento”, declarou, em junho de 1972, o ministro José Costa Cavalcanti, ao discursar como chefe da delegação brasileira na primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia. A posicão do Brasil foi clara: nações mais pobres deveriam primeiro converter os baixos níveis de renda por meio de estímulos ao desenvolvimento e, somente depois, lidar com o impacto ambiental causado pelas atividades econômicas.
O investimento do Estado, com subsídios e incentivos fiscais [aos agrotóxicos], representa uma política pública adotada no período [da ditadura civil-militar brasileira]
Enquanto isso, no Brasil, cresciam os casos de contaminação pelos então chamados "defensivos agrícolas", já largamente usados, mirando o aumento da produção. “Intoxicação por inseticidas vai ficando comum”, alertava em 12 de abril de 1972 o Jornal do Brasil, em reportagem de página inteira que detalhava o estrago causado pelo processamento de centenas de formulações de substâncias químicas, comercializadas livremente no país. “Daí resultam o adoecimento súbito, a morte repentina e outras consequências atingindo agricultores, lavradores, trabalhadores rurais, pulverizadores e várias categorias de profissionais continuamente expostos a quantidades ponderáveis de inseticidas”, diz o texto.
Assine:
Newsletter #emCasa: as notícias da Casa quinzenamente no seu e-mail
Os agrotóxicos foram peça fundamental para a consolidação do modelo agroindustrial promovido pela ditadura no Brasil, revela artigo publicado na revista História, Ciências, Saúde, Manguinhos (HCSM), da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). Autores da análise e doutorandos no Programa do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da instituição, Leonardo de Bem Lignani e Júlia Lima Gorges Brandão detalham como o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA) – criado em 1975, já em um cenário de críticas ao uso das referidas substâncias – estimulou a produção nacional de agrotóxicos, entre eles, inseticidas organoclorados, como DDT e Dieldrin, proibidos em outros países.
Mudança abriu espaço para substâncias com toxicidade de efeito imediato
“O Estado brasileiro subsidiou a produção de substâncias já sabidamente poluentes”, frisa Lignani, acrescentando que o PNDA também consolidou uma mudança no perfil de produção e uso de agrotóxicos no Brasil. Os organosclorados saíram tardiamente de cena e foram substituídos por inseticidas organofosforados e herbicidas, também nocivos ao organismo. “São substâncias com alta toxicidade aguda, ou seja, que têm efeito imediato no organismo, logo após o contato. Já o impacto dos organoclorados se manifesta mais adiante e permanece por um longo período”, explica o pesquisador, que é biólogo, com mestrado em ecologia. “Com essa substituição, quem manipula o produto assume os maiores riscos”.
Os organoclorados representavam, então, a maior parte da produção nacional de inseticidas: 80%. “Os efeitos nocivos dessas substâncias tornaram-se evidentes em fins dos anos 1950 e início dos anos 1960, quando surgiram as primeiras reavaliações, por parte da comunidade técnica internacional, acerca dos problemas de segurança e eficácia dos agrotóxicos”, diz o artigo.
Se à época já se sabia o poder ruinoso dos agrotóxicos, pouco anos antes, eles causaram grande otimismo, observa Lignani. Não apenas pelos resultados de curto prazo alcançados no combate a “pragas agrícolas”, mas também no controle de vetores que transmitiam diversas doenças, entre as quais, a malária. Segundo o biólogo, o uso disseminado dos agrotóxicos na agricultura está associado à “Revolução verde”, modelo de desenvolvimento agrícola baseado em técnicas “modernas”: uso de sementes geneticamente modificadas, maquinários agrícolas e insumos químicos, como agrotóxicos e fertilizantes.
O modelo adotado na agricultura e na indústria na Europa e na América do Norte foi propalado como uma espécie de parâmetro da “modernização” para os países “subdesenvolvidos”. Mas a conta a pagar foi alta. “Impactos ambientais, na saúde dos agricultores, o aumento da desigualdade no campo e a elevação da produtividade focalizada em cultivos para exportação estão entre os principais problemas relacionados à ‘Revolução Verde’ ”, escrevem os autores, que analisaram documentações disponíveis no acervo da Fiocruz e no Centro de Memória do Instituto Biológico de São Paulo, além de reportagens disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
Governo incentivou produção de veneno com subsídios e incentivos fiscais
Quando o PNDA foi criado, em 1975, o Brasil surgia como crescente mercado consumidor de pesticidas. Além de aumentar a produção de agrotóxicos no Brasil, o programa tinha como objetivo reduzir a dependência de importações, pois poucos princípios ativos eram então produzidos no país. Para isso, o governo investiu pesado no setor químico, concedendo subsídios e incentivos fiscais. Porém, a análise dos projetos executados no âmbito do programa revela que a participação do capital nacional foi pequena. A consolidação ocorreu, mas apenas na abertura de filiais de empresas estrangeiras.
Segundo o artigo, 85% do total de vendas de agrotóxicos em 1976 haviam sido financiados pelo crédito rural. “O investimento do Estado, com subsídios e incentivos fiscais, representa uma política pública adotada no período”, pontua Lignani. O crédito rural, aliás, foi um dos principais lobbies da Associação Nacional de Defensivos Agrícolas (Andef), entidade de classe representante das indústrias de agrotóxicos no país, criada um ano antes do início do PNDA.
O PNDA impulsionou, especialmente, a produção nacional de fungicidas e herbicidas. No primeiro caso, o salto foi de 7.558 toneladas/ano para 14.905 toneladas ano; e no segundo, de 828 toneladas/ano para 9.633 toneladas/ano entre 1974 e 1979. As novas categorias de pesticidas acompanhavam a expansão do cultivo de commodities, como o trigo, a laranja e, principamente, a soja. Mas as pragas não foram necessariamente debeladas. Espécies como a cigarrinha-da-cana-de-açúcar e a ferrugem do cafeeiro, fontes de prejuízos nas safras, permaneceram causando problemas econômicos, diz o artigo.
O Brasil se consolidou como um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Em 2019, mais 479 produtos passaram a ser comercializados no país, a maior liberação em 14 anos. Estudo do Ipea, de 2020, aponta que o volume de vendas cresceu mais de 2,5 vezes (150%) entre 2006 e 2017. Mas o crescimento da área plantada não seguiu o mesmo ritmo: ficou em 26%. O consumo de agrotóxicos, considerando dados de área e de comercialização, praticamente dobrou: de 3,2 kg por hectare, em 2005, para 6,7 kg por hectare, em 2014. O país também vive outro crescimento lastimável: entre 2007 e 2017, os casos de intoxicação por agrotóxico mais que dobraram, chegando ao total de 41,6 mil, aponta dados gerados pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Após 23 anos de tramitação, Senado vai votar mudanças na legislação
Lignani faz uma comparação entre os marcos regulatórios da época do estudo e o contexto atual, quando o Projeto de Lei dos Agrotóxicos está prestes a ser votado, na próxima quarta-feira, 6 de julho. Originalmente PLS 526/1999, de autoria do ex-senador Blairo Maggi, a matéria retorna ao Senado após 23 anos de tramitação no Congresso. O substitutivo revoga quase que por completo a legislação atual (7.802/1989), regulamentada em 2002, flexibilizando o controle e a aprovação de agrotóxicos no Brasil. Assim como no passado, quando a ditadura financiou o uso de agrotóxicos no país, a justificativa desenvolvimentista volta à cena.
“Podemos fazer um paralelo com o retorno da lógica do desenvolvimento a qualquer custo”, diz Lignani, que chama atenção também para os conflitos de interesse relacionados às regulamentações ambientais. No período analisado no artigo, isso já ocorria, pois representantes militares e civis do governo brasileiro ocuparam cargos em empresas de agrotóxicos, um vínculo que se fortalecia “a partir da troca de interesses mútuos e pode explicar a permanência, por tanto tempo, de uma legislação defasada e insuficiente para a regulamentação de produção, comercialização e uso de agrotóxicos”, destacam os autores.
Segundo Lignani, há pontos no projeto de lei que são um retrocesso, entre os quais, a mudança no modelo para aprovação de um agrotóxico no país. Apenas a pasta de Agricultura passa a ter a palavra final, excluindo os órgãos da Saúde e do Meio Ambiente. Ele critica também a substituição da palavra agrotóxico por pesticida e produtos de controle ambiental e ainda a alteração no processo de proibição de agrotóxicos no país. Hoje, a legislação veta produtos com características teratogênicas, carcinogênicas, mutagênicas. No projeto de lei, a condição para a proibição será para substâncias, que, nas condições recomendadas de uso, apresentem “risco inaceitável” para seres humanos ou para o meio ambiente.
Diante de tamanha dependência do uso de agrotóxicos, qual o caminho? A saída, avalia o pesquisador, é uma transição para um novo modelo agrícola, com redução do consumo de agrotóxicos e adoção de alternativas que sejam ambientalmente e socialmente mais sustentáveis. Para isso, a votação da próxima quarta-feira é fundamental.