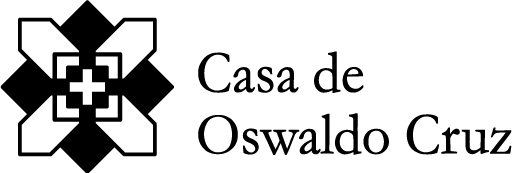Tese analisa a construção do termo, que define um problema estrutural e se configura como uma questão de saúde pública
| Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil |

Por Karine Rodrigues
A gestante entra na maternidade. Até sair com o bebê no colo, ouve piadinhas sobre a demora para conseguir parir; recebe medicações para acelerar as contrações; sente a pressão das mãos que apertam a sua barriga para forçar a expulsão; e a dor de ser cortada entre o ânus e a vagina e depois ser costurada com o tal “ponto do marido”. A experiência ainda é rotineira na atenção ao parto no país, mas há muito não se deve considerá-la normal. Existe um termo para qualificá-la: violência obstétrica.
Se já se conhecem os problemas do sistema, mas ainda assim eles permanecem, está acontecendo uma violência obstétrica mais institucionalizada, pois se permite que a mulher e o bebê passem por uma situação de vulnerabilidade que poderia ter sido evitada
“Já se falava em maus tratos, abuso. Mas quando você define como violência, há um estranhamento entre os profissionais de saúde. ‘Como assim o que eu estou fazendo é uma violência?’, se questionam”, observa Larissa Velasquez de Souza, que investigou a trajetória histórica do termo no Brasil em tese defendida recentemente no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).
Para construir essa perspectiva histórica, Larissa lançou mão de referenciais teóricos, fez entrevistas com profissionais da área, analisou legislações. A partir daí, aprofundou as discussões em torno do termo, que nomeia como violência obstétrica atos que provoquem danos físicos e ou psicológicos à mulher, praticados por profissional da saúde ou de outras áreas, mas que atuem indiretamente nessa assistência, assim como atos que firam os princípios de autonomia e liberdade de escolha sobre procedimentos a serem realizados no corpo da mulher e aos direitos garantidos, como acesso à informação e assistência baseada em evidência.
Entre as práticas violentas, há condutas fáceis de identificar, como xingamentos ou agressões físicas. Mas não somente. Técnicas médicas adotadas rotineiramente sem sustentação científica também entram no rol, como a episiotomia, realizada com base na crença de que facilitaria o nascimento e preservaria a integridade genital da mulher, e a manobra de Kristeller, quando mãos, braços, cotovelos são usados para pressionar a barriga da gestante, forçando a saída do bebê.
Os custos de tais condutas podem ser altos, pois há risco de infecções, deslocamento de placenta, mutilação genital, traumas encefálicos. No Brasil, estudo da Fundação Perseu Abramo, de 2010, revelou que uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência na assistência ao parto. Gritos, procedimentos sem autorização ou informação, falta de analgesia e negligência figuram como os mais frequentes.
Movimentos de mulheres puxaram discussões para revisão de práticas
Para compreender a violência obstétrica como um problema estrutural e que se configura como uma questão de saúde pública, Larissa recuperou pontos sobre a historicidade da concepção sobre violência em seus aspectos culturais e econômicos. Ela voltou à década de 1980, quando os debates sobre violência contra a mulher começaram a questionar práticas tradicionais de assistência ao nascimento que feriam os direitos humanos das mulheres, já garantidos em lei. Denúncias sobre fatos na cena do parto lançaram mais luz sobre o problema. Mas como procedimentos tão usuais e ensinados como adequados passam a ser considerados violência? Em que contexto eles violam a mulher?
As respostas começaram a surgir quando movimentos de mulheres passam a discutir autonomia, corpo feminino, direitos sexuais e reprodutivos, individualidade, ciência feminista e Medicina Baseada em Evidências. “Os casos de abusos e maus tratos físicos e psicológicos refletiam questões de gênero engendradas pela cultura sexista e repercutiam o resultado de uma estrutura de sistema de saúde inserido em um contexto capitalista e industrial”, escreve Larissa.
Desde 1996, a Organização Mundial da Saúde (OMS) restringe o uso de determinadas práticas durante o parto a situações específicas. No Brasil, após rever condutas na assistência ao nascimento, o Ministério da Saúde lançou, em 2001, publicação na qual define que a episiotomia de rotina e a manobra de Kristeller, entre outras, são procedimentos “claramente prejudiciais ou ineficazes” e devem ser eliminados. Ainda assim, até hoje ainda são adotadas no país. Pesquisa coordenada pela Fiocruz, a Nascer no Brasil, revelou que 53,5% das mulheres entrevistadas que passaram pelo parto normal sofreram corte no períneo.
Alto número de cesáreas e de mortalidade materna acenderam alerta
A incorporação do termo violência obstétrica no Brasil foi inspirada na legislação de países latino-americanos e se deu no início do século 21, diante do uso indiscriminado de práticas sem embasamento científico, desaconselhadas pela OMS, e do alto número de cesáreas realizadas no país, que detém a vice-liderança mundial de partos cirúrgicos, atrás apenas da República Dominicana, segundo estudo publicado na The Lancet.
A mulher precisa ter informação de qualidade para fazer suas escolhas sobre o parto. Por isso, a discussão sobre violência obstétrica é tão importante. É necessário garantir acesso à informação. Só assim vamos podemos falar de escolha
Considerada, também, um tipo de violência institucional e violência contra a mulher, já estabelecido em tratados nacionais, a violência obstétrica não possui tipificação em lei a nível federal no país. Despacho de 2019 do Ministério da Saúde considera o termo inadequado, pois os atos não seriam cometidos com a intenção de prejudicar ou causar dano.
Embora a cesárea seja essencial quando partos vaginais podem representar risco, a situação se torna oposta se a cirurgia é realizada sem justificativa científica. O risco de mortalidade na infância pode crescer 25% nos casos de cesáreas sem indicação médica, segundo estudo liderado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs), da Fiocruz Bahia, e publicado na PLOS Medicine.
Pesquisa realizada pela Fiocruz revelou que 88% dos partos realizados em instituições privadas são cirúrgicos. Número alarmante, se levarmos em conta que a OMS recomenda uma proporção de 15%. Entre as questões que contribuem para essa situação, estão fatores como a rapidez do procedimento, quando comparado ao parto normal, e a disputa de mercado, pois a cirurgia é prerrogativa dos médicos. Já o parto normal pode ser realizado por enfermeiras obstétricas.
Segundo a médica Carmen Diniz, professora da Universidade de São Paulo (USP) e referência em estudos sobre violência obstétrica, muitas mulheres deixam de fazer o parto normal e optam pela cesárea para fugir da episiotomia rotineira. Ela foi uma das profissionais entrevistadas por Larissa durante a elaboração da tese.
Em artigo sobre o tema, escrito com Alessandra Chacham, Diniz discorre sobre a difícil “decisão” da mulher entre o “corte por cima” (cesárea) ou “o corte por baixo” (episiotomia) e apresenta o argumento de grupos de usuárias organizadas que “acreditam que para tornar o abuso de cesáreas aceitável, é fundamental manter o parto vaginal o mais doloroso e danoso possível, se preciso negando as evidências científicas às quais a prática médica supostamente deveria aderir”.
Um dos principais indicadores de qualidade de atenção à saúde das mulheres no período reprodutivo, a razão de mortalidade materna também deve ser considerada entre as formas de violência obstétrica. Em 2019, segundo dados do Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna, a taxa era de 57 mortes a cada 100 mil nascimentos, mas o indicador explodiu durante a pandemia, chegando, em 2021, a 107 mortes número muito inferior à taxa média registrada na Europa, por exemplo, de 13 mortes a cada 100 mil nascimento, de acordo com informações do Relatório da Saúde Europeia.
“Se já se conhecem os problemas do sistema, mas ainda assim eles permanecem, está acontecendo uma violência obstétrica mais institucionalizada, pois se permite que a mulher e o bebê passem por uma situação de vulnerabilidade que poderia ter sido evitada”, observa Larissa, chamando atenção também para a importância de se informar profissionais da área e gestantes sobre transformações ocorridas em relação ao tema.
“Por mais que se tenham evidências científicas embasando essas mudanças, essas informações precisam circular. A mulher, por exemplo, precisa ter informação de qualidade para fazer suas escolhas sobre o parto. Por isso, essa discussão sobre violência obstétrica é tão importante. É necessário garantir acesso à informação. Só assim vamos podemos falar de escolha”, avalia Larissa.
Médicos consideram o termo inadequado e ofensivo
A aproximação de Larissa com o tema da tese surgiu durante o mestrado na Casa de Oswaldo Cruz, quando analisava o impacto do Centro de Referência de Mulheres da Maré como estratégia de enfrentamento da violência intrafamiliar. Ao participar do grupo de pesquisa “Medicalização do parto”, coordenada pelo professor Luiz Antônio da Silva Teixeira, ela decidiu seguir seu percurso acadêmico investigando a relação entre os dois temas: violência e saúde.
Teixeira, aliás, publicou no ano passado artigo em que analisa, com mais três pesquisadores, a percepção de médicos professores de obstetrícia sobre violência obstétrica, a partir de pesquisa qualitativa com dez obstetras. Os autores observam que, embora conscientes do problema, grande parte dos médicos professores adotam uma postura defensiva sobre a questão. Além disso, “desconhecem a acepção específica do termo e o consideram inadequado e ofensivo à categoria médica; resumem a violência obstétrica a agressões físicas e pensam a autonomia das mulheres como uma instância que deve ser limitada pela autoridade médica”. Considerando a importância da atuação do professor no processo de formação, os autores concluem ser necessário um maior conhecimento docente sobre aspectos mais controversos da humanização do parto.
Mudanças na formação profissional
Os profissionais entrevistados durante a tese avaliaram que a redução da violência obstétrica passa por transformações na formação profisisonal. Além disso, consideraram que, comparado ao cenário de 1980, houve mudanças na assistência ao parto no país, especialmente, a partir de iniciativas como o projeto Apice On, de 2017, e a Rede Cegonha, de 2011, criadas pelo Ministério da Saúde e realizada em parceria com instituições públicas, entre elas, o Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz – em abril deste ano, o governo federal substituiu a Rede Cegonha pela Rede Materno Infantil (RAMI).
Larissa finaliza destacando que a violência obstétrica reflete problemas estruturais, que são reproduzidos na área médica, como o preconceito de gênero, o racismo e a desigualdade social. “É uma questão multifatorial, que precisa ser enfrentada”, diz, considerando que o conhecimento da trajetória histórica do termo pode ajudar no aprofundamento das discussões sobre o tema e na própria mudança de condutas.
“Antigamente, na escola, as crianças ‘aprendiam’ com palmatória, mas isso mudou. São processos históricos, resultado das interações entre as pessoas, entre as culturas. A ciência está num contexto e não isolada no planeta. Por isso, sofre influência da sociedade, da economia, é impactada pelo racismo, o machismo. Quando se compreende isso, se entende como ela pode ser afetada pelas mudanças nos processos sociais”, conclui.