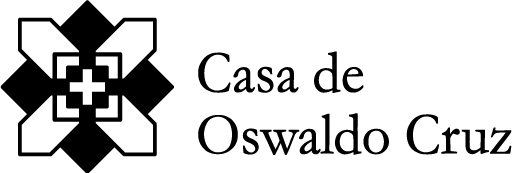Do blog da revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos
“Campanhas educativas são importantes, mas não resolvem situações emergenciais como as atuais epidemias de zika e dengue. Ações verticais não são incompatíveis com o empoderamento da população”. A opinião é do historiador Jaime Benchimol, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, que ministrou a aula aberta “Aedes aegypti: há mais de um século o mais temido inimigo público do Brasil” na última quinta-feira, 31 de março, na Fiocruz, Rio de Janeiro. Também participou da aula a chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rafaela Vieira Bruno, que falou sobre a relação entre as pessoas e o mosquito hoje.
Para Benchimol, é preciso resgatar o know how de Oswaldo Cruz e seus sucessores para remontar estruturas organizadas e eficazes que combinem mobilização da sociedade civil, mais estudos e agentes de saúde indo nas casas, entre outras ações verticais. O pesquisador discorreu sobre a história do mosquito que há mais de um século aterroriza populações. Hoje temido por transmitir zika, dengue e chicungunya, o Aedes aegypti assombrava cidades portuárias tropicais disseminando a febre amarela.
Até o fim do século 19, não se sabia ao certo o que causava a doença, que era combatida por desinfecções, quarentenas e outras medidas pensadas para destruir seu suposto bacilo, principalmente nos cortiços onde a população pobre se aglomerava. Em 1881, o cubano Carlos Finlay apontara um Culex como transmissor da febre amarela. O mosquito passou a ser chamado Stegomyia fasciata em 1901 e, partir dos anos 1920, Aedes aegypti. Só após duas décadas, uma comissão científica dos EUA confirmou a teoria de Finlay e instituiu brigadas para combater os mosquitos na capital cubana.
Na capital brasileira, em 1903, a transmissão da febre amarela ainda era objeto de um confronto entre os ‘exclusivistas’, liderados por Oswaldo Cruz, que acreditavam que a doença era transmitida só pelo Stegomyia fasciata, e os ‘não convencidos’, que defendiam as desinfecções, quarentenas e outras medidas agora desqualificadas, mas ainda presentes no senso comum que regia a opinião pública.
Entre 1903 e 1907, o mosquito virou alvo das campanhas lideradas por Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro e depois em Belém. Ele inspirou-se na campanha conduzida por norte-americanos em Havana, mas a aperfeiçoou ao executá-la numa cidade com mais de 800 mil habitantes – o triplo da população da capital cubana – e enfrentando muito mais dificuldades. De acordo com Benchimol, era um momento de muitas incertezas, e havia um conjunto variado de resistências, o que o obrigou a lutar em várias frentes.
Organizado em moldes militares, o Serviço de Profilaxia Específica de Febre-Amarela contava com brigadas capazes de se deslocar rapidamente aos focos da doença. A notificação dos casos era compulsória, mas os clínicos da cidade resistiam à interferência do poder público na relação médico-paciente. As autoridades sanitárias chegavam a verificar nas farmácias os endereços das casas dos doentes que constavam em receitas com prescrições sugestivas de febre amarela.
Uma vez identificado um foco, um médico confirmava o diagnóstico e supervisionava os trabalhos dos mata-mosquitos. A primeira providência era isolar o doente em casa, para impedir que fosse picado por mosquitos e os infectasse. Se o doente preferisse, ou se fosse impossível o isolamento domiciliar, o que acontecia em geral com a população mais pobre, era transferido para o hospital de isolamento no Caju ou o Hospital dos Estrangeiros em Botafogo.
Segundo Benchimol, isolamento domiciliar significava a instalação de uma armação de madeira revestida de tela ao redor da cama do doente para impedir o acesso dos mosquitos. O quarto era vedado e fumigado. A queima de pó de piretro liberava um vapor que atordoava os mosquitos, que caíam e eram varridos e queimados. Para eliminá-los do resto da casa, papel era colado em todas as aberturas e o prédio era coberto com extensos panos de algodão. Enxofre numa panela de ferro colocada no chão era queimado para que fosse desprendido o gás sulfuroso. O ambiente expurgado ficava fechado por uma hora e meia, mas num ponto dele deixava-se uma abertura por onde entrasse luz para que os mosquitos se juntassem ali e se tivesse um controle da quantidade exterminada. O médico responsável pelas operações devia observar as pessoas que tinham contato com o doente a fim de detectar logo novos casos. Prédios vizinhos também eram submetidos a expurgos.
“A saúde pública ganhou um poder de intromissão na vida privada que jamais tivera. As medidas coercitivas tomadas contra o mosquito e os indivíduos que tinham ou podiam ter a doença contribuíram para encrespar os ânimos já exaltados pela vacina obrigatória contra varíola, as demolições e outras iniciativas traumáticas para os cariocas”, afirmou Benchimol.
Em sua opinião, as iniciativas destinadas a persuadir a população a apoiar a nova estratégia da saúde pública – os “Conselhos ao Povo” publicados na imprensa pró-governamental e os folhetos distribuídos nas casas com esclarecimentos sobre a transmissão da febre amarela – tiveram pouco efeito.
A cidade foi repartida em dez distritos sanitários, cujas delegacias de saúde tinham a incumbência de receber as notificações de doentes, aplicar soros e vacinas, multar e intimar proprietários de imóveis e detectar focos epidêmicos. Paralelamente transcorriam as ações contra os mosquitos nas áreas públicas da cidade. Nas canalizações de esgotos e águas, era introduzido o gás sulfuroso por meio do “aparelho de Clayton”. Morriam os ratos e suas pulgas, vetores da peste, e milhares de mosquitos procuravam uma saída, mas encontravam telas.
Para eliminar ovos e larvas de mosquitos por asfixia, o Serviço de Profilaxia Específica da Febre Amarela aplicava petróleo ou uma mistura de querosene, creolina e óleo de eucalipto às águas acumuladas em calhas, tonéis, latas de conserva, cacos de vidro e outros recipientes. Nas casas mais luxuosas, os proprietários eram intimados a colocar barrigudinhos, peixes que comiam larvas de mosquitos nos tanques, fontes e chafarizes.
As resistências encontradas eram compreensíveis diante das mudanças de abordagem da saúde pública. “Combater a febre amarela significara, a princípio, transformar o ambiente, depois combater a bactéria supostamente responsável pela doença. Agora significava romper o ciclo homem doente – mosquito – homem saudável. Ao observarmos o que aconteceu naquela virada de século, obteremos um quadro parecido com o que vivemos hoje com a zika, repleto de incertezas capazes de insuflar as controvérsias públicas suscitadas pela mudança de estratégia na saúde pública”, resumiu.
Ajuda norte-americana no combate ao Aedes aegypti
Em 1917, morre Oswaldo Cruz. Em 1919, é criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, comandado por Carlos Chagas. Em 1923, o Departamento aceita a cooperação da Fundação Rockefeller no combate à febre amarela no Brasil.
Segundo Benchimol, o alvo em que a Rockefeller investiu mais recursos foi a febre amarela. O objetivo era erradicar a doença das Américas. Os especialistas da Rockefeller consideravam mais eficaz e econômico atacar só a forma larvária, deixando de lado as fumigações feitas desde os tempos de Oswaldo Cruz para eliminar os mosquitos adultos. “Para os médicos da Rockefeller, as autoridades brasileiras usavam as espetaculosas fumigações para esconder deficiências na administração pública e para agradar os caciques políticos”, contou Benchimol.
Em 1924, pela primeira vez em mais de meio século, não houve nenhum caso em Salvador. E já em 1925, começaram a ser desativados os postos criados nos principais portos entre Salvador e Manaus. Supondo que a Rockefeller tivesse a situação sob controle, Carlos Chagas e o médico que o sucedeu em 1926 na direção da Saúde Pública – Clementino Fraga – reduziram as ações contra o Aedes aegypti no Rio de Janeiro, interrompendo-as em janeiro de 1928, justo quando ocorria uma reviravolta na situação da febre amarela na África ocidental. Em maio daquele ano, teve início no Rio uma epidemia de grandes proporções que durou dois anos e acabou com a crença de que a erradicação da febre amarela seria tarefa simples.
“As circunstâncias não deixavam a Clementino Fraga outra saída senão tentar repetir o feito de Oswaldo Cruz”, afirmou Benchimol. Sua primeira providência foi restaurar as fumigações, agora com uma mistura de querosene, tetraclorido de carbono e píretro, a ser aplicada por meio de bombas de pulverização da DuPont. Um dos principais produtores desses petroquímicos era a Standard Oil, a mantenedora da Fundação Rockefeller, que fabricava também o Flit, inseticida que se tornaria muito popular no Brasil.
O Rio tinha então 1,7 milhão de habitantes. Fraga reuniu um exército de mais de 7 mil homens, e, pela primeira vez, grandes empresas, associações de classe e outros componentes da sociedade civil colaboraram ativamente no esforço de mobilizar a população contra o alvo que a saúde pública desejava atingir através da Cruzada de Cooperação na Extinção da Febre Amarela. Para envolver a população, a Fox Filmes e a Light co-produziram um filme demonstrando as medidas que os moradores deviam adotar ou apoiar. O filme foi assistido por cerca de 50 mil pessoas.
Em 1930, Fred L. Soper assumiu a chefia do Serviço Cooperativo de Febre Amarela após Getúlio Vargas assumir a presidência. Encontrou um quadro político mais propício ao controle verticalizado de vetores e humanos. O decreto de 1932 que regulamentava o Serviço aumentava o território sob sua jurisdição e dava a seus chefes total liberdade para organizar suas rotinas, contratar e demitir. Os guardas e inspetores do Serviço passaram a receber salários mais altos que outros funcionários públicos, mas tiveram de cumprir disciplina rigorosíssima. Soper e sua equipe reelaboravam a estratégia de combate à febre amarela. Era preciso mapear sua verdadeira extensão no país e atacá-la nas cidades menores do interior. Tais objetivos puderam ser alcançados graças a novas técnicas desenvolvidos em meio ao boom de estudos experimentais deflagrado por descobertas na África Ocidental.
Em trabalho publicado em 1933, Fred Soper e seus colaboradores brasileiros concluíram que no Brasil também o vírus era transmitido por outros vetores além do Aedes aegypti e tinha outros hospedeiros vertebrados além do homem. A campanha passou a distinguir três cenários: regiões de matas e florestas pouco habitadas e varridas pela febre amarela silvestre; e as zonas urbanas e rurais onde a doença era transmitida pelo Aedes aegypti. De acordo com Benchimol, a meta passou a ser a eliminação total do mosquito, e a maquinaria do Serviço de Febre Amarela foi levada a extremos de rigor e precisão.
Passou-se a fazer o recenseamento e a numeração de todos prédios das cidades a expurgar. Nas esquinas, placas com os números do quarteirão e da zona exibiam uma seta indicando a direção que o inspetor devia tomar. Os guardas e inspetores do Serviço da Febre Amarela usavam uniformes que os tornava reconhecíveis pelo público e lhes dava a dignidade de outros corpos das forças armadas. Proprietários ou arrendatários de prédios e terrenos eram punidos com multas se dificultassem seu trabalho ou fossem relapsos quanto à procriação do Aedes aegypti.
A partir de 1933, não houve mais epidemia urbana de febre amarela. Aconteciam surtos urbanos, porém causados pela transferência do vírus da mata para a cidade.
Em 1939, a Rockefeller deixou de renovar com o governo brasileiro o acordo para a profilaxia da febre amarela. Em 1940 foi criado o Serviço Nacional de Febre Amarela, sob responsabilidade exclusiva dos sanitaristas brasileiros. A estrutura da campanha contra o Aedes aegypti permaneceu inalterada, mas foi preciso fazer correções de rumo. O mosquito fora eliminado em largas extensões do país, mas ainda ocorria no Nordeste, região mais infestada. A intensa migração de nordestinos para as cidades litorâneas poderia comprometer todo o programa se a erradicação não fosse absolutamente eficiente nas zonas rurais. No Nordeste, a maioria das larvas era encontrada em jarras e vasilhames de barro, em cujas paredes internas ficavam aderidos os ovos. Passou-se, então, a flambar essas paredes internas com pano em chamas.
O programa avançou mais rápido a partir de 1947, quando se passou a usar o DDT (dicloro-difenil-tricloretano) e o método perifocal para eliminar, simultaneamente, as formas aquática e alada do mosquito. O inseticida de ação residual era aplicado em qualquer depósito, com ou sem foco, dentro e fora das casas, inclusive nas paredes.
Benchimol ressaltou que o princípio da interdependência, que torna inúteis as ações individuais contra o Aedes aegypti se os vizinhos não fizerem o mesmo, valia para o Brasil: o programa seria ele inútil sem um acordo internacional que garantisse a aplicação simultânea e uniforme das mesmas medidas nos países vizinhos. Um plano continental de erradicação foi aprovado pela Organização Panamericana de Saúde (Opas) e o know-how do Serviço Nacional de Febre Amarela foi colocado à disposição. Em 1958, diversos países foram declarados livres do mosquito.
Retrocesso e reação na luta contra o Aedes aegypti
O pesquisador contou que o epílogo da campanha contra febre amarela foi o decreto promulgado em 1965 pelo general Castelo Branco, primeiro presidente do regime civil-militar imposto ao país, que extinguia o decreto de 1932, que definira o arcabouço legal do Serviço de Febre Amarela. Em 1967, porém, o Aedes aegypti ressurgiu no Pará e aos poucos reconquistou seu território primitivo. Equipes da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) passaram a atacar o mosquito, agora resistente ao DDT, com inseticidas fosforados, caros e difíceis de usar.
Em 1982, o Aedes aegypti foi encontrado em Niterói, e em bairros do Rio de Janeiro a infestação chegou perto do índice considerado alarmante pela OMS. Surtos de febre amarela silvestre levavam organizações e especialistas a alertar sobre o perigo da reurbanização da doença e a defender a reconstrução de uma orquestração continental contra o Aedes aegypti. O resultado da proliferação do mosquito foi o primeiro surto de dengue no país, em Roraima em 1982. A epidemia de dengue no Rio em 1986 e 1987 revelou pela primeira vez o Aedes albopictus, mosquito originário da Ásia, que entrou no Brasil através de portos que exportavam ferro para o Japão.
Nos anos 1990, a vacina antiamarílica foi absorvida pelo Programa Nacional de Imunizações. A estratégia prioritária para o controle da febre amarela não era mais o combate ao mosquito. Segundo Benchimol, a imunização universal foi cancelada após algumas mortes ligadas à vacina, mas vacinações nas áreas de risco, com protocolos mais rigorosos de vigilância, foram mantidas, uma vez que a equação risco-benefício as justificam. “Notícias de eventos adversos continuam a coexistir com notícias ainda hoje alarmantes de febre amarela silvestre a bater às portas de cidades latino-americanas”, disse.
Benchimol acredita que tecnologias diferentes daquelas adotadas nos anos 1930, que envolvem manipulação genética, podem revolucionar as vacinas contra vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, como os da febre amarela e da dengue. Um exemplo é o Projeto Aedes Transgênico, ligado à empresa britânica Oxitec, que desde 2011 já liberou milhões de machos que carregam um gene fatal para as larvas resultantes do cruzamento com fêmeas selvagens, levando-as à morte antes da fase adulta. A crise atual colocou em grande evidência outra estratégia de controle do Aedes aegypti: consiste em transferir para os ovos do mosquito a Wolbachia, bactéria intracelular que bloqueia a atuação do vírus nos mosquitos. Ao se reproduzirem na natureza, passando a bactéria da mãe para o filho até predominarem os mosquitos infectados, interromper-se a transmissão da dengue e, supõe-se, de outros vírus.
De acordo com Benchimol, o Brasil é hoje referência no controle do Aedes aegypti devido à importância do vetor na história médico-sanitária do país. Para ele, as experiências anteriores foram bem-sucedidas porque, embora envolvessem serviços públicos, tiveram autonomia para operar à margem do estado. “A operacionalidade foi fundamental. Tinham que agir e agiram. Em momento de crise, não há tempo para enfrentar burocracias”, enfatizou.
Para ele, a mobilização popular é essencial, mas o Estado, pressionado pela crise, hoje tenta reativar, improvisadamente, os antigos mecanismos da ação campanhista.
“A principal lição da história é que não é possível dar cabo do objetivo com elementos que não se entendem e regiões agindo de maneira desconexa. É preciso uma orquestração muito eficiente a nível de estados, municípios e do governo federal, que passe ao largo de amarras burocráticas e da política clientelística, hoje imperante”, concluiu.