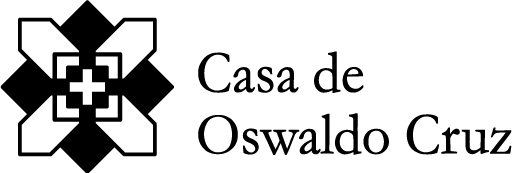Pesquisador e professor participou das atividades promovidas pela Aldeia Maracanã e o Museu da Vida Fiocruz, que comemorou 24 anos
| Foto: Marlon Soares. |

Por Cristiane Albuquerque
A língua ze'egete, falada pelo povo Guajajara, no Maranhão, e também ouvida na zona Norte do Rio é expressão de resistência em uma aldeia rodeada por concreto e pelo trânsito caótico da cidade. É na Aldeia Marak’ana (Maracanã), referência nacional e internacional da luta indígena em grandes centros urbanos, que um grupo 'rema contra a maré' para evitar o apagamento da cultura e da memória dos povos originários.
Sem ajuda e sem financiamento, levamos a cultura e as tradições indígenas para dentro das escolas
Do local, o cacique José Urutau Guajajara, um dos mais conhecidos líderes no movimento pelos direitos indígenas no Rio, organiza e desenvolve atividades para manter vivas as tradições dos povos originários, levando para dentro das escolas a língua, os cânticos, os costumes e a arte indígena. A iniciativa atende crianças e adolescentes das redes pública e particular de ensino. Incansável, ele não para por aí. Urutau luta para que professores sejam capacitados e tornem-se multiplicadores da cultura indígena dentro e fora das salas de aula.
Na semana passada, o cacique participou das comemorações de aniversário do Museu da Vida Fiocruz. Por meio de uma série de atividades culturais organizadas pela Aldeia Maracanã em conjunto com o museu, visitantes, estudantes e pesquisadores que passavam pelo campus de Manguinhos, no Rio, puderam mergulhar na cultura indígena com oficinas de tupi-guarani, contação de histórias, feira de artesanato e medicinas da floresta, além de apresentação de cânticos e danças.
No Rio há mais de 20 anos, Urutau ficou conhecido em 2013, quando resistiu por mais de 24 horas em cima de uma árvore para defender o território da Aldeia Maracanã e evitar que os indígenas fossem retirados do local. Pesquisador de linguística do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor de língua e cultura indígena no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), o líder indígena falou, em entrevista, sobre os desafios dos aldeamentos urbanos, saúde indígena nas cidades, a crise Yanomami, entre outros temas. Confira:
A crise do povo Yanomami colocou a questão indígena sob os holofotes. Considerando que as realidades dos povos originários no país são múltiplas, quais são os principais desafios enfrentados pelas populações indígenas que vivem em cidades como o Rio?
Karuk Pàtywà (Boa tarde)! O caso dos Yanomamis foi só a ponta do iceberg do sucessivo genocídio indígena que acontece desde 1500. Mas é fato que o governo Bolsonaro, que acabou em 2022, vinha perseguindo não só os Yanomamis, mas todas as terras indígenas que possuem grandes riquezas de mineração, como é o caso da Reserva dos Kayapó, no Pará; dos Cinta-Larga, em Rondônia e no Mato Grosso; dos Guajajaras, no Maranhão; e de vários outros povos espalhados pelo Brasil.
A bancada ruralista e outras bancadas que querem as terras indígenas atentam o tempo inteiro contra os nossos povos, implementando propostas de emendas constitucionais e projetos de lei para derrubar os artigos 231 e 232 da Constituição Federal, que trata das nossas terras, de quem são os indígenas. Eles vêm nos atacando há muito tempo, desde a Constituição de 1988.
Uma das [iniciativas] mais cruéis é a PEC 215, que resultou em outras propostas de emendas constitucionais e projetos de leis. Esse governo genocida, que saiu em 2022, fortaleceu a bancada ruralista e o extermínio dos povos originários. Temos que lutar de todas as formas para que nossa memória não se apague e que essas organizações não venham tão pesadas para tentar nos derrubar e matar. Isso acontece há 523 anos. Precisamos nos fortalecer levando nossas tradições e cultura para dentro das organizações não governamentais, para as escolas e universidades.

Museu convidou público a aprender com os povos originários. Foto: Marlon Soares.
Diversas vozes já denunciaram o apagamento da memória e da cultura dos povos indígenas no Rio e no país. Como você vê esse processo hoje?
No Rio de Janeiro, como em todos os grandes centros, é muito difícil manter nossas tradições, costumes, línguas, religiosidade. Tudo a nossa volta trabalha para o grande apagamento das populações indígenas. Então, nossa luta é incansável. Muitas pessoas perguntam o motivo de a gente não cansar. Eu sempre respondo: se o europeu que invadiu nossas terras há 523 anos não se cansou desse genocídio sucessivo até hoje, por que eu vou me cansar [de lutar]?
Como tem sido a mobilização para evitar que esse apagamento aconteça?
Minha luta para manter viva a cultura de todos os povos originários do território nacional acontece dentro das escolas e das universidades da rede pública e particular de ensino. No estado e no município do Rio de Janeiro, a gente vem tentando trabalhar. É difícil, mas, temos conseguido realizar atividades com crianças, adolescentes e jovens e também trabalhado com os professores para que sejam multiplicadores da nossa cultura dentro e fora das salas de aula. Outra iniciativa diz respeito à inserção de indígenas nas universidades. Esse trabalho tem uma grande importância para que não se deixe morrer nossa memória também na literatura.
Você pode falar mais sobre esse projeto de inserção da cultura indígena nas escolas e universidades?
No Rio de Janeiro, como em todos os grandes centros, é muito difícil manter nossas tradições, costumes, línguas, religiosidade
O projeto ‘Vendo, convivendo e aprendendo com indígenas’ surgiu no início anos 2000, no Centro de Etnoconhecimento Sociocultural e Ambiental Caiuré (Cesac), espaço comunitário da população indígena urbana, localizado em Thomás Coelho, no Rio de Janeiro. A iniciativa existe até hoje. Sem ajuda e sem financiamento, levamos a cultura e as tradições indígenas para dentro das escolas. Na última semana, estive em duas escolas; mais de 600 crianças tiveram contato com as nossas tradições, cultura, música, dança e língua. É dessa forma que não deixamos que nossas tradições sejam enterradas. Por isso, precisamos falar isso em todos os lugares, fortalecer vínculos com movimentos sociais, que são tão importantes no contexto urbano, fora das reservas. Vale lembrar e cobrar as autoridades que, em março de 2008, foi criada uma lei que alterou o texto da [Lei] 10.639, que trata da obrigatoriedade de inserção da temática de afro-brasileiros e africanos nas escolas e inclui a questão indígena na pauta. É uma lei importante, mas não trata totalmente da questão do apagamento dos povos indígenas e, após 15 anos, ainda não está sendo implementada, infelizmente.
Precisamos falar isso em todos os lugares, por isso [é importante] fortalecer os movimentos sociais, principalmente em contexto urbano, fora das reservas, mas mantendo o vínculo com os nossos parentes que estão aldeados. Um dos principais motivos para o êxodo para os grandes centros é a questão fundiária.
O projeto de criação da Universidade Indígena é mobilização voltada para a valorização da cultura indígena aqui no Rio. Quais são os moldes dessa universidade?
A Aldeia Maracanã é uma universidade indígena. Em 2006, nós reassumimos essas terras. A Aldeia passou a ser um local de pesquisa, com estudantes de diversas áreas do conhecimento, um campo de pesquisa para professores e estudantes de todos os cursos de universidades e ensinos médio e fundamental.
Por volta do ano de 2017, vi a necessidade [de atuar] para além da Aldeia Maracanã. Aqui [na aldeia], a gente já ministrava línguas e culturas tupi-guarani e também cantos indígenas. Hoje, são duas ementas — ‘Línguas e cultura tupi-guarani’ e ‘Cantos indígenas’ — dentro das escolas públicas e particulares, para a implementação da Aliança 1645, para auxiliar e suprir os professores.
Hoje, estamos preparando uma ementa que chamamos de ‘Formação para formadores’, que busca orientar e preparar os professores para tratar dessa temática dentro da sala de aula, já que muitos não sabem como orientar ou como passar essa temática aos seus alunos. Trabalhamos transversalmente todas as matérias sobre essa temática indígena, já que o Estado Brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro, no geral, não formam os professores para essa temática.
Nós da Aldeia Maracanã, Universidade Indígena, estamos travando também uma batalha para que as universidades acolham os indígenas. Atualmente, estamos realizando discussões na Universidade do Estado do Rio de Janeiro [Uerj]. No ano passado, foram celebrados os 22 anos de cotas na Uerj, mas, no nosso caso, observamos que não tem indígenas; são contados a dedo os indígenas que estudam na Uerj. Tudo isso, causado pelo problema da burocratização, da documentação, muita exigência. Os indígenas são barrados logo na inscrição porque não conseguem a isenção. Por outro lado, a Unirio [Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro] aceita o documento de autodeclaração de autoafirmação de indígena em contexto urbano para a inserção em todos os seus cursos. Isso foi um avanço.
Agora, estamos trabalhando na Uerj para que também aceite. Porque não existe mais o registro de indígenas, a partir da Constituição de 1988, exigido pelas universidades para a inserção de indígenas. O Brasil é signatário da autoafirmação. Então, basta o papel de autoafirmação para ingressar no curso superior das universidades, não só estaduais, mas federais também. Na teoria é assim, mas na prática, é muita burocracia, exigências e, por isso, é que tem poucos indígenas nas universidades. Essa é a nossa grande luta também.
Há cerca de dez anos, o Estado agiu, de forma violenta, para desocupar a Aldeia Maracanã. Qual é a situação da aldeia hoje?
Ao longo dos anos, sofremos diversas tentativas de retiradas e retornamos todas as vezes. No dia 17 de dezembro de 2013, fiquei em cima da árvore por 24 horas para defender esse território, e nos tiraram da Aldeia Maracanã para acontecer, logo em seguida, a Copa do Mundo de 2014. O Estado usou de muita truculência, violência, prisões. Eu fui preso cinco vezes em 2013, só por defender o nosso território, não deixar a nossa memória se apagar e defender esse patrimônio nacional, do povo brasileiro, um patrimônio indígena. O processo da Aldeia Maracanã é uma vergonha. O processo pesa uma tonelada e 950 gramas, 1350 páginas de denúncias do genocídio e das violências do Estado contra os povos indígenas, contra nós, indígenas da resistência da Aldeia Maracanã. Nada foi decido em nosso favor. Apesar disso, estamos nos preparando para ser reconhecidos pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] como o primeiro aldeamento urbano do Rio de Janeiro.
Pode falar um pouco mais sobre esse reconhecimento do IBGE?
O último levantamento do IBGE, realizado em 2010, mostrou que mais da metade dos povos originários vive nos grandes centros urbanos, até porque esses grandes centros engoliram as nossas reservas. Hoje, o nosso desafio é manter a nossa língua, nossos costumes e tradições, mesmo morando fora das reservas, estudando, trabalhando e morando nas cidades.
Neste ano de 2023, o IBGE está realizando um trabalho intenso aqui aldeia, um levantamento para reconhecer a Aldeia Maracanã como o primeiro aldeamento urbano do Rio de Janeiro. Mesmo sem apoio, ajuda ou financiamento, a Aldeia Maracanã hoje é uma referência nacional e internacional de luta, de resistência indígena em grandes centros urbanos.
A crise sanitária da Covid-19 teve um impacto devastador no país. Como a aldeia atravessou esse momento?
Na Aldeia Maracanã, nos preparamos internamente para atravessar a pandemia de Covid-19 em 2020. Nos isolamos, nos alimentamos bem, e atravessamos a pandemia isolados, agarrados às nossas tradições. Além disso, nós possuímos diversos apoiadores, principalmente da área da saúde, inclusive da Fiocruz, que, nesse período, doaram luvas e máscaras. Aqui, não houve nenhum caso da doença. Outros aldeamentos, como em Paraty e Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, muitos indígenas morreram. Mas, aqui, ficamos bem protegidos.
Atualmente, quais são os principais desafios para a garantia do direito à saúde para os povos indígenas no Rio?
A garantia do direito à saúde para os povos indígenas é um desafio não só no Rio, mas em todo o território nacional. Até 2014, esse tema era tratado pela Fundação Nacional da Saúde [Funasa]. A partir daí, o Estado nacional entregou a questão à Sesai – Secretaria Especial de Saúde Indígena. [Com] isso, piorou a questão da distribuição da renda para os indígenas nos aldeamentos. Aqui no Rio de Janeiro, em especial, vivemos, atualmente, um problema seríssimo que é a situação da Casa do Índio, na Ribeira, na Ilha do Governador, local que, ao longo de cinco décadas, acolheu mais de 600 índios das mais diversas etnias com problemas físicos, mentais e neurológicos. Em novembro do ano passado, com a morte de Eunice Cariry, fundadora da Casa, o local ficou totalmente abandonado. O governo está querendo tirar os indígenas e não tem onde colocá-los. Temos aí mais um embate para que isso não aconteça.
Pela primeira vez, o Brasil tem um Ministério dos Povos Indígenas, liderado por uma pessoa indígena. Qual a importância dessa representatividade e qual é a expectativa dessa gestão?
O governo genocida do ex-presidente Bolsonaro atentou diretamente contra as terras indígenas e contra nós, indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas, liderado pela ministra Sonia Guajajara, nasce sem verbas, mas, apesar disso, temos esperança de que diversas terras indígenas serão demarcadas tanto com o auxílio do Ministério dos Povos Indígenas, quanto da nova gestão da Funai com Joênia Wapichana, deputada federal pela Rede [RR].