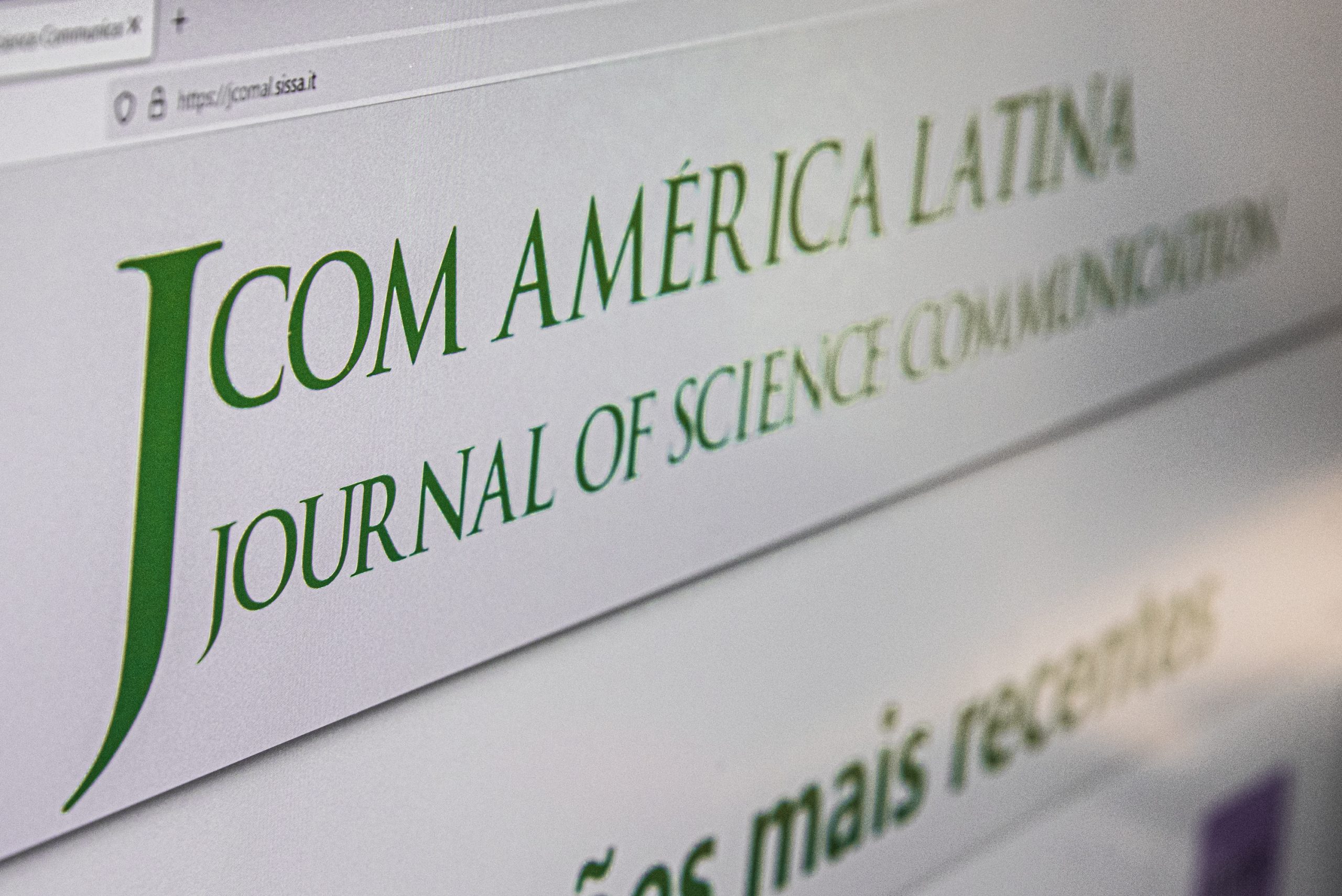Dilene Raimundo do Nascimento explica que associação equivocada de doenças a determinadas orientações sexuais dificulta seu enfrentamento
| Foto: Raquel Portugal. |

Por Glauber Gonçalves
As manchetes de jornal que se seguiram à confirmação dos primeiros casos de Aids no Brasil nos anos 1980 deram o tom de um discurso que se cristalizou nas primeiras décadas da epidemia. A concentração inicial dos diagnósticos entre homens que faziam sexo com homens bastou para que lhe fosse atribuída a pecha de “peste gay” num noticiário marcado pelo alarmismo e pelo sensacionalismo, que estigmatizou homens gays, logo apontados como um “grupo de risco”.
As pessoas se interrelacionam e, nesse relacionamento, as transmissões podem acontecer. Qualquer tentativa de desconstruir preconceitos tem de mostrar que as pessoas não vivem em um casulo
Parte da comunidade médica, além de autoridades sanitárias, também contribuiu para a discriminação de determinados grupos, aponta a historiadora Dilene Raimundo do Nascimento, professora do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), que estudou a história da Aids no Brasil. Romper com o estigma em torno da infecção pelo vírus HIV, segundo ela, é um processo gradual e ainda inconcluso.
“Esse trabalho não está terminado, não há um momento exato a partir do qual o preconceito e a discriminação tenham sido desconstruídos e o HIV/Aids passado a ser visto como um problema de todos”, afirma. Em entrevista, ela ressalta que a atuação de ONGs lideradas por homens soropositivos foi fundamental no combate ao preconceito e na busca de respostas para a epidemia. “Homens homossexuais, que estavam sendo mais afetados [no início da epidemia], resolveram não morrer em silêncio.”
Assine:
Newsletter #emCasa: as notícias da Casa quinzenamente no seu e-mail
Hoje, as memórias sobre a desinformação e os estigmas do início da epidemia de Aids há mais de 40 anos voltam à tona diante da mais recente emergência de saúde pública de importância internacional, a monkeypox. Embora a doença não seja uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), a alta prevalência entre homens que fazem sexo com homens nos primeiros diagnósticos motivou manifestações de autoridades que chegaram a aconselhar a redução do número de parceiros sexuais para esse grupo.
A recomendação, em torno da qual há ampla divergência, é questionada por Dilene. Na avaliação da historiadora, pronunciamentos nessa linha podem acabar por reforçar estigmas em torno de homens que fazem sexo com homens e disseminar o entendimento de que outros grupos estão imunes à doença. “Todos viram o que aconteceu com o HIV/Aids, como foi difícil lidar com isso para as autoridades sanitárias, para a população em geral e particularmente os próprios afetados pelo vírus. Isso não pode se repetir de forma alguma”, diz.
Leia os principais trechos da entrevista.
A epidemia de Aids nos anos 1980 e 1990 foi marcada pela estigmatização de determinados grupos. O que levou a isso?
Quando a Aids surgiu, insistiu-se que o maior “grupo de risco” – no início da década de 1980, usava-se ainda esse termo – era o de homossexuais masculinos. Isso porque os primeiros casos diagnosticados com aquela doença “estranha”, “desconhecida” eram de homossexuais masculinos. A própria classe médica definiu a Aids como uma doença de homossexuais masculinos, e essa concepção se espraiou para o mundo inteiro, para as matérias de jornais. Tivemos, nos jornais daqui do Brasil, [chamadas] dizendo: “doença estranha ataca homossexuais masculinos”.
Quais as consequências disso?
Isso fez com que aquele que não se considerava homossexual se sentisse livre da doença. As mulheres se sentiam livres da doença. Mas observou-se que o número de casos começou a aumentar também entre as mulheres, uma vez que, entre os homens que fazem sexo com homens, há inclusive homens casados [com mulheres]. Mas aí o estigma já estava instalado, já estava dito e redito que a Aids era uma doença de homossexuais masculinos.
De que forma a questão do estigma foi enfrentada?
Foi um trabalho muito grande dos próprios homens infectados, que criaram ONGs e tentaram desconstruir essa concepção. Mas foi muito difícil. Viu-se que as mulheres estavam se contaminando, que as crianças também estavam se contaminando a partir das mulheres. [O problema do estigma] melhorou muito, mas ainda existe, não foi eliminado de todo.
Quando a questão do estigma entrou na agenda das autoridades sanitárias?
Isso demorou muito. Em meados dos anos 1990, a Aids ainda estava na agenda como uma doença de homossexuais. Tentar desconstruir isso foi um trabalho hercúleo das ONGs voltadas para a Aids. Homens homossexuais, que estavam sendo mais afetados, resolveram não morrer em silêncio, como eu digo no meu livro [As Pestes do século 20: tuberculose e Aids no Brasil, uma história comparada, Editora Fiocruz]. Eles constituíram ONGs e foram a público para mostrar outras situações da Aids que não somente a dos homossexuais masculinos. Pessoas de projeção, como o Betinho [o sociólogo Herbert José de Sousa], por exemplo, que era HIV-positivo por conta da hemofilia e que foi presidente da Abia [Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids], contribuíram muito para essa desconstrução. Somente em 1995 é que começaram a ser feitos cartazes sobre o HIV para mulheres, por exemplo. Mas não é possível fixar exatamente um momento [em que essa questão tenha entrado na agenda das autoridades]. Isso fez parte de um processo demorado, e, como processo, não tem uma data ou momento a partir do qual as coisas mudaram, porque ainda não mudaram totalmente.
Durante um período as próprias autoridades sanitárias contribuíram com a estigmatização?
Com certeza. Havia uma autoridade conhecida da área da saúde que dizia que a Aids não era um problema da população toda, que a Aids era uma coisa de “viado” – ele chegava a empregar esse termo. No Gaffrée e Guinle [hospital universitário localizado no Rio], que depois se tornou hospital de referência para o tratamento do HIV/Aids, médicos também diziam que apenas homossexuais teriam Aids, porque os outros modos de relações sexuais “eram normais”. Mas felizmente essa posição mudou, e depois o Gaffrée e Guinle se tornou um hospital de referência para tratamento de Aids.
Estudos apontam que, nos últimos anos, a resposta brasileira ao HIV/Aids, considerada exemplar em outras épocas, teve um retrocesso. Isso tem impacto na luta contra o estigma?
É claro que isso atrapalha o processo de desconstrução do preconceito. Tivemos um retrocesso na área da saúde especialmente de 2016 para cá, não apenas em relação ao HIV/Aids. Há falta de vacinas em doenças que já estão no calendário do PNI [Programa Nacional de Imunizações], está faltando BCG para vacinar as crianças contra a tuberculose. Em relação ao sarampo, começamos a ter surtos de uma doença que já estava controlada no Brasil. E o HIV/Aids também se ressente disso. Isso dificulta o processo [de combate ao estigma], que ainda não terminou. Esse trabalho não está terminado, não há um momento exato a partir do qual o preconceito e a discriminação tenham sido desconstruídos e HIV/Aids passado a ser visto como um problema de todos.
Em determinado momento, o termo “grupo de risco” deixou de ser usado. O que levou a essa mudança?
Essa já era a tentativa de diminuir a discriminação. Ao mesmo tempo, as estatísticas mostravam que as mulheres estavam sendo afetadas pelo HIV, então as coisas tiveram que mudar. Uma das estratégias foi eliminar esse termo, porque o “grupo de risco” delimita. Os excluídos do “grupo de risco” podiam achar que não precisavam se preocupar com a Aids, mal sabendo que aquele problema pertencia a todos.
No atual surto de monkeypox, há novamente a preocupação com o estigmatização, uma vez que muitos dos primeiros casos foram diagnosticados entre homens que fazem sexo com homens.
Quando o diretor da OMS [Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom] falou sobre isso, fiquei impactada. Vamos voltar à era da Aids? Ele falou que uma forma de se proteger da monkeypox seria que homens que fazem sexo com homens reduzissem o número de parceiros, o que pode fazer as pessoas suporem que apenas homossexuais masculinos podem ter e transmitir monkeypox. A transmissão se dá por contato com lesões de pele ou com secreções [de indivíduos com a doença], então qualquer pessoa pode ser infectada. Novamente corremos o risco de entrar num processo em que entramos em relação à Aids. Cem por cento dos primeiros casos diagnosticados com HIV era de homens que faziam sexo com homens, mas não somente homens que faziam sexo com homens tiveram Aids. Vamos ter um pouco de trabalho com isso [por conta dessa fala].
Mas o pronunciamento do diretor da OMS também aponta a preocupação com o estigma. Não é um sinal de que algo foi aprendido com o que aconteceu com a Aids?
Eu sei que na mesma fala ele diz que a discriminação, o preconceito, pode ser pior que a própria monkeypox, mas antes ele diz que a monkeypox afeta homens que fazem sexo com homens. Agora, que houve um aprendizado, houve. Todos viram o que aconteceu com o HIV/Aids, como foi difícil lidar com isso para as autoridades sanitárias, para a população em geral e particularmente os próprios afetados pelo vírus. Isso não pode se repetir de forma alguma.
Como informar a população sobre a doença de forma responsável?
Homens que fazem sexo com homens podem eventualmente fazer sexo com mulheres. As pessoas não estão isoladas, elas se relacionam de uma forma ou de outra. Qualquer pessoa pode estar suscetível a se contaminar com o vírus da monkeypox, independentemente de sua orientação sexual. É preciso fazer um trabalho de formiguinha, disseminando esse entendimento de que as pessoas se interrelacionam e que, nesse relacionamento, as transmissões podem acontecer. Qualquer tentativa de minimizar ou desconstruir preconceitos e discriminação tem de mostrar que as pessoas não vivem em um casulo, as pessoas não vivem apenas dentro de um grupo; as pessoas vivem em sociedade. Espero que essa discriminação de que homens que fazem sexo com homens são os mais suscetíveis à monkeypox seja rapidamente eliminada.