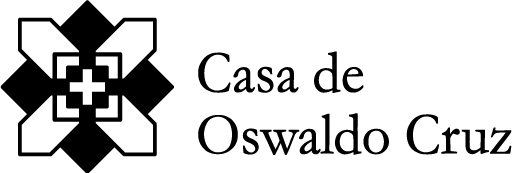Quando o general Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) suspendeu por dez anos os direitos políticos de um grupo de pesquisadores do então Instituto Oswaldo Cruz (IOC), hoje Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 1ª de abril de 1970, Ary Carvalho de Miranda estava às voltas com as preocupações de pré-universitário, focado em conquistar uma vaga no curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ).
Reintegração dos cientistas cassados foi um ato polissêmico: reparou uma injustiça cometida pela ditadura; fortaleceu a ciência brasileira na área da saúde; e reafirmou gestos democráticos
Só mais tarde, já médico residente na Fiocruz, Miranda compreendeu o peso daquela data. A arbitrariedade cometida há 50 anos, fundamentada no Ato Institucional nº 5 (AI-5), também determinou a demissão dos cientistas, aposentados compulsoriamente e impedidos de trabalhar em qualquer instituição pública do país. Era “O Massacre de Manguinhos”, nome dado pelo entomologista Herman Lent (1911-2004), um dos 10 pesquisadores perseguidos, em referência ao bairro onde está situada a Fiocruz.
Miranda acabou protagonizando um momento emblemático na história do episódio ao ser convidado por Sérgio Arouca (1941-2003), presidente da Fiocruz entre 1985 e 1989, para ser seu chefe de gabinete. Em 15 de agosto de 1986, ele abriu o ato que marcou o retorno dos cientistas cassados pela ditadura (1964-1985): Haity Moussatché (1910-1988), Herman Lent (1911-2004), Moacyr Vaz de Andrade (1920-2001), Augusto Cid de Mello Perissé (1917-2008), Hugo de Souza Lopes (1909-1991), Sebastião José de Oliveira (1918-2005), Fernando Braga Ubatuba (1917-2003), Tito Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (1905-1990), Masao Goto (1919-1986) e Domingos Arthur Machado Filho (1914-1990). Dos dez, Lent foi o único a permanecer em outra instituição, a Universidade Santa Úrsula, no Rio.

Cientistas cassados pela ditadura foram reintegrados em ceriônia pública . Foto: Acervo COC/Fiocruz.
“Senhoras e senhores. Ministério da Justiça, decreto de 1º de abril de 1970”, declarou Miranda, ao iniciar o discurso de apresentação da solenidade, realizada sob o olhar do Pavilhão Mourisco, em Manguinhos, Zona Norte do Rio. Ele testemunhava, ali´, um momento marcante: os pesquisadores defenestrados injustamente, há 16 anos, agora de cabelos brancos, estavam novamente reunidos na instituição onde, por cerca de três décadas, desenvolveram estudos fundamentais para o desenvolvimento científico do país, com reconhecimento internacional.
A cassação foi um ápice de um processo iniciado em abril de 1964. Durante dois anos, os cientistas responderam a três inquéritos. Acusados de subversivos, nada foi provado contra eles. Ainda assim, em 1970, tiveram suspensos os seus direitos políticos. A decisão fechou laboratórios, extinguiu linhas de pesquisa e prejudicou coleções importantes do acervo do IOC.
Em entrevista à Casa de Oswaldo Cruz, Miranda, professor do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública (Cetesh/Ensp/Fiocruz), na instituição desde 1985, dá detalhes sobre aquele dia marcante para a Fiocruz, para a Ciência e para a democracia do país. Segundo ele, a natureza ajudou: “Fez um dia bonito, de sol”, recorda.
A reintegração dos cassados, na opinião do sanitarista, tem múltiplos significados, que extrapolam os domínios da Fiocruz e da Ciência. “O Massacre de Manguinhos”, acrescenta ele, precisa ser lembrado, especialmente nos dias em que vivemos, para que os ataques à democracia façam, exclusivamente, parte do passado.
No próximo dia 2 de outubro, o episódio será debatido no 3º Fórum Fiocruz de Memória (Fofim) Ciência, Democracia e Memória. O evento tem início às 9h30, com transmissão pela página da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) no Facebook. Leia, abaixo, os principais trechos da entrevista.
A reintegração dos pesquisadores se deu durante a gestão de Sérgio Arouca na presidência da Fiocruz. Naquela época, você ocupava a chefia de gabinete dele. Em que momento surgiu a ideia de reparar a arbitrariedade cometida pela ditadura?
É preciso antes falar sobre o contexto do país e da própria Fiocruz naquela época. Os anos 1980 foram uma década perdida do ponto de vista econômico, quando o Brasil começa um processo de franca desindustrialização, com a entrada do Fundo Monetário Internacional (FMI) para financiar a estrutura primária no campo, principalmente no agronegócio e na mineração. Por outro lado, foi um período de grande vigor político, iniciado no fim dos anos 1970, com a Lei da Anistia (6.683/1979), a volta dos exilados, a reforma política, a eleição direta, o desmonte do aparato repressivo de tortura, assassinato e desaparecimento de corpos da ditadura. Não havia ainda eleição para presidente da Fiocruz. Mas houve uma mobilização, nós criamos um congresso interno na instituição Estou contextualizando isso porque o campo da saúde coletiva participava desse processo político contra a ditadura e por um novo sistema de saúde, alternativo ao existente desde 1930, no qual inexistia universalização de oferta dos serviços de saúde, em que só trabalhadores formais, com carteira assinada, tinham acesso ao sistema. Com a saída dos militares e com morte do presidente Tancredo Neves (1910-1985), José Sarney assume um governo já articulado. Há uma pressão grande da saúde coletiva. E Arouca, então, assume a presidência da Fiocruz em 1985, onde permaneceu até 1989.
A mobilização da saúde coletiva caminhava junto com a luta pela democratização.
Sim. As pessoas pensam: “Ah, vocês, sanitaristas, tiveram importância fundamental”. Mas a verdade é que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi resultado de uma grande luta política, enorme participação social que desaguou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em março de 1986, quando foram lançadas as bases para o SUS. Na época, Arouca já presidente da Fiocruz, discutíamos a proposta de fazer uma conferência popular, com pelo menos metade dos delegados representantes da sociedade civil organizada. Não só no campo da saúde coletiva, Sindicato dos Médicos, enfermeiros, Conselho Regional de Medicina, de Farmácia, associações de moradores, sindicados de diversas categorias profissionais, tanto urbanos quanto rurais, e outras entidades representativas da sociedade que tinham a saúde como pauta em sua agenda, como o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan). Por isso, acho que foi uma vitória dos intelectuais, dos organismos, que lutaram por outro sistema de saúde e, depois, em 1979, do primeiro Simpósio sobre Saúde na Câmara dos Deputados. Esse processo vai num crescente, sendo a saúde um componente da luta contra a ditadura. Isso tudo chega a 1985, quando Arouca assume a presidência, a partir desse movimento forte nacional e desse movimento interno da Fiocruz. Uma das questões que ele já colocava era a absurda cassação dos 10 cientistas do IOC pela ditadura. Tinha de ter um gesto de um simbolismo político fundamental na consolidação do processo democrático. Então, decidiu-se fazer a reintegração.
Você recorda detalhes dos preparativos? Chegou a falar com algum dos pesquisadores?
Na época, vivíamos ainda um processo de construção da democracia, dentro dos limites possíveis. Não havia Assembleia Nacional Constituinte; nem eleição para presidente da República. Pensamos, então, que a reintegração teria de ser um gesto fundamental de reparação da brutalidade da ditadura. Queríamos transformar a reintegração formal em um grande evento político, com repercussão nacional. A ideia era deixar claramente marcado para o conjunto da sociedade que aquele era um gesto de enfrentamento dos absurdos da ditadura e de recuperação da Fiocruz, uma instituição científica que sempre teve a maior importância na América Latina, com um papel muito significativo, e perdeu muito com a cassação. Decidimos fazer um grande evento na escadaria do Castelo, com todos os dez pesquisadores e seus familiares, funcionários, professores e profissionais do setor administrativo da Fiocruz, além de pessoas de fora, para dar uma marca política ao evento.
No documentário “O Massacre de Manguinhos”, de Lauro Escorel Filho, reconhecemos vários rostos importante da política, da Ciência e das Artes, como o ator e compositor Mário Lago (1911-2002), presidente da Comissão Nacional de Anistia; o vice-governador do Rio à época, antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997); o cantor e compositor Chico Buarque; o presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães (1916-1992)…
Sobre o Ulysses, lembro bem quando surgiu a ideia de convidá-lo. Eu mesmo fui, pessoalmente, falar com ele. Decidimos que eu ficaria lá no Congresso até conseguir falar convidá-lo. Aproveitei aquele batalhão de repórteres que costumavam segui-lo pelos corredores, a caminho do Congresso. Entrei no meio deles, parei bem na frente dele e disse: “Sou fulano de tal. Nós vamos fazer uma reparação daquela injustiça que foi o Massacre de Manguinhos, será um evento importantíssimo e seria uma honra que você estivesse presente”. Ele disse que eu fosse até a secretária dele e pedisse para marcar o compromisso na agenda. E ele foi, de fato, à solenidade. Obviamente, o Arouca, como presidente da Fiocruz, depois reforçava os convites.
Como você descreveria o dia da solenidade?
O ato emocionou a todos. Foi um dia de grande comoção e de grande congraçamento. Fizemos uma enorme solenidade, linda. Estava um dia bonito, não choveu. A arquibancada estava super lotada. Havia figuras importantes do mundo político, da ciência e das artes. Além dos discursos, houve apresentação de uma obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht (1898-1956), “A vida de Galileu”, com Antônio Pedro e Paulo José, nas escadarias do Castelo Mourisco. A Fiocruz assumiu esse papel de reparação dessa truculência da ditadura e conseguiu fazer isso com grande representatividade política. Os dez cassados estavam lá com seus familiares.
Como foi possível a reintegração? A partir daquele dia, os cientistas passaram a receber os seus direitos como pesquisadores da Fiocruz?
Na verdade, havia uma questão que era como contratar esses cientistas. Naquela época, o governo tinha recursos extraordinários para a contratação de profissionais para a epidemia da dengue. E quando os recursos acabassem? Não havia alternativa: teríamos de contratar com o dinheiro da dengue e, depois, dar um jeito. Então, a reintegração foi um ato de grande ousadia política. Realizamos o ato com grande ressonância política nacional e resolvemos a questão. Acho importante destacar o significado político desse gesto.
Em seu discurso no dia da solenidade de reintegração, Darcy Ribeiro disse que chorava pelas pesquisas interrompidas e observou que um cientista cria outro. Qual o impacto daquela cassação para a Ciência?
Os pesquisadores foram excluídos dos cursos; as orientações foram suspensas. E os laboratórios, fechados. Um atentado aos cientistas, que dedicavam suas vidas ao serviço público. Um atentado contra a população e contra as instituições de ciência e saúde e a democracia. É um exemplo do que foi a ditadura militar. Foi um ataque à produção de conhecimento e trouxe uma série de consequências. Não há como aferir as consequências precisas de um atentado dessa natureza. Os prejuízos são enormes porque o conhecimento científico tem um tempo para ser produzido. As pessoas vão acumulando experiências, estudos, vão formando outros pesquisadores e, assim, o processo de conhecimento vai se desenvolvendo.
E qual o significado da reintegração para o país, naquele momento?
Vários. Foi um ato polissêmico. Porque estava dentro de um contexto. Reparou um absurdo, uma injustiça cometida pela ditadura; fortaleceu a ciência brasileira na área da saúde; politicamente, reafirmou gestos democráticos. A reintegração está no escopo da luta pela construção de outro sistema de saúde, uma vitória importante. A reintegração foi um marco. Mas a luta continuou, claro. A gente não tinha ainda conseguido o SUS. Estávamos numa luta pela Assembleia Nacional Constituinte e por outro sistema de saúde, que fosse inclusivo. E o Massacre de Manguinhos deu bastante visibilidade para essa luta encampada pela saúde coletiva. Como ter um regime democrático com um sistema de saúde que discriminava trabalhadores? Absurdamente injusto e privatista, desde a sua origem, hospitalocêntrico, centrado na Previdência Social? A democracia tinha de se concretizar com uma política pública universal. Nós tínhamos um desafio enorme pela frente: construir esse sistema. Isso não é pouca coisa. Quem garantiria esse direito? O Estado, porque a iniciativa privada quer acumular riqueza em cima da população. Essa prerrogativa vem junto com um conjunto de questões que são, por exemplo, a participação social, fundamental na formação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas.
Qual a importância de se rememorar O Massacre de Manguinhos, cerne do 3º Fórum Fiocruz de Memória?
No momento atual, marcado pelo ataque às instituições, à produção de conhecimento e aos cientistas e pelo negacionismo científico do governo, é muito importante trazer esse episódio para o centro do debate. Para que se relembrem os prejuízos institucionais sofridos pelo país com as arbitrariedades da ditadura. Ao mesmo tempo, para mostrar a capacidade de resistência da população. Trazer essa discussão é uma forma de marcar a tragédia e mostrar também que somos capazes de resistir e, em algum momento, superar isso. Manter a história viva é fundamental porque a gente não faz o presente e nem a perspectiva futura sem a história, E ela nos mostra que temos que continuar resistindo para que não haja tanto retrocesso como o que já está ocorrendo. Se a gente pegar a história recente, a sociedade brasileira saiu de uma ditadura ferrenha, que fechou Congresso Nacional, partidos políticos, implantou assassinatos, torturas, desaparecimento de corpos, e conseguiu superá-la. Então, é importante recuperar esse passado de resistência.