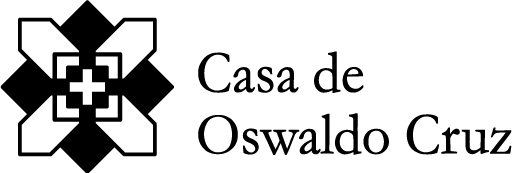Por Glauber Gonçalves
Na semana passada, o País parou para ir às ruas ou para acompanhar pela televisão e pela internet o movimento que reuniu mais de um milhão de pessoas em dezenas de cidades brasileiras. Apesar da grande dimensão, a onda de protestos – que deixou perplexos políticos e a imprensa que cobria os eventos – não têm caráter transformador, sustenta o historiador Valdei Araujo, que classifica os acontecimentos como próprios do "presente lento", conceito cunhado para se referir a um presente ocupado por histórias do passado, por narrativas que, nas palavras dele, não nos projetam para fora dele. Em vez de produzir ruptura, aprofundam o capitalismo, resume.
A própria rede social que te põe na rua é a mesma que cria o mantra da não violência, da contenção, da interiorização, e permite que cada um, dentro de sua rede social, ouça apenas o que quer ouvir
Convidado do último Encontro às Quintas para falar sobre “o que ainda podemos aprender com a história”, Araujo fez uma reflexão sobre o lugar que o pensamento histórico ocupa na modernidade. Ele abordou desde a inflexão de fins do século 18, quando as sociedades ocidentais passaram a se projetar menos na sua visão do passado do que no seu projeto voltado ao futuro, até as relações que temos com a história hoje. Nesse caso, o palestrante não se furtou a refletir sobre as manifestações das últimas semanas.
“O que marca o fato de parecer ser um acontecimento do presente lento, um evento que não transforma, é essa incapacidade de ele se transformar em discurso”, disse Araujo durante a palestra na última quinta-feira (21/6). Para ele, em lugar de representarem a coletividade, as vozes que gritavam de Belém a Porto Alegre defendendo bandeiras múltiplas falavam de si próprias. A falta de um discurso unificado, porém, não seria necessariamente uma característica negativa.
Evento-fantasma
O “acordar do Brasil” – expressão conservadora na análise do historiador – é mais um exemplo do que ele chama de “evento-fantasma”, acontecimento no qual a população deposita seu desejo por transformação, sem saber bem que rumo quer tomar. As manifestações estariam, portanto, no mesmo rol dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Diante da televisão, a expectativa do telespectador atônito com os jatos que se chocavam contra as torres gêmeas era de que a história se transformaria a partir dali, diz ele, para logo constatar: o evento não marcou, efetivamente, uma ruptura, uma nova fase.
Novamente em frente à televisão, agora assistindo ao noticiário que repercute ao vivo a ida das massas às ruas em todo o País, Araujo tem a mesma sensação. “Enquanto o acontecimento contemporâneo é um fluxo, ele nos dá uma sensação de transformação. Parece que algum futuro poderia se abrir ali. Vinte ou 30 minutos depois, você liga no Jornal Nacional e vê que a primeira análise do movimento – a primeira tentativa de produzir sentido com ele – traz mais do mesmo. A expectativa de transformação é uma questão de minutos; ela se esvai”, afirma.
A explicação para as amarras que impedem movimentos como o de agora de produzir ruptura e transformação estão no próprio modelo capitalista, que, segundo Araujo, criou sistemas tão autônomos nos quais nem os Estados nacionais conseguem interferir de maneira substantiva. Citando a historiografia de Hans Gumbrecht, ele diz que todo movimento produzido hoje só aprofunda o capitalismo. Por essa lógica, não fazer nada seria mais revolucionário do que “ir para a rua murmurar”, afirma. “Não fazer nada hoje pode ser mais transformador do que ficar se movimentando sem direção. Quando você se movimenta sem direção, o sistema transforma esse movimento nele mesmo”, defende.
Medo da violência é sentimento decisivo das manifestações
Talvez as manifestações deem mais sentido para nossa vida empobrecida […]. Mas não é uma forma de transformação. pois os problemas de fundo são sistêmicos
A incorporação da ordem na sociedade contemporânea seria um dos exemplos desses sistemas autônomos. Segundo ele, a ordem está tão introjetada que milhares de pessoas puderam estar nas ruas sem ameaçar nada em termos sistêmicos. “Não vai ser um montão de vozes, falando cada qual a sua besteira na rua que vai resolver isso. Esses problemas são estruturais”, diz, admitindo a intenção de radicalizar o debate. Além de uma esperança muito frágil, outro sentimento definidor da manifestação do dia 17 de junho, foi o medo da violência, um dos traço da sociedade contemporânea. “Como é que é pode ter tanta gente na rua e tão pouca violência?”, questiona. “É claro que talvez isso (as manifestações) dê mais sentido para nossa vida empobrecida. A gente planta uma florzinha na calçada e se sente bem, é uma forma de resistência. Mas não é uma forma de transformação. pois os problemas de fundo são sistêmicos”.
Araujo observa que muitos dos jovens que hoje vão às ruas no Brasil surfaram na expectativa de ampliação ilimitada do consumo e de crescimento harmônico e linear na era Lula. No entanto, não vivenciaram o período de autocontenção dos anos 90.
“Para eles, é difícil entender a quantidade de violência que foi preciso para fazer a Revolução Francesa, que foi o início de uma transformação estrutural importante. Uma das questões que hoje impede a transformação é que não queremos violência”, afirma o pesquisador. Ele defende, entretanto, que a aversão à violência é uma característica positiva do momento contemporâneo, embora isso represente uma possibilidade de congelamento do presente.
Importante instrumento catalisador dos movimentos das últimas semanas, as redes sociais, na avaliação de Araujo, precisam receber mais atenção dos historiadores daqui para a frente. “A própria rede social que te põe na rua é a mesma que cria o mantra da não violência, da contenção, da interiorização, e permite que cada um, dentro de sua rede social, ouça apenas o que quer ouvir”, diz.
Controle social sobre as redes sociais
Ele questiona os níveis de controle – ou falta dele – que a sociedade exerce sobre essas redes e destaca que os rumos desses ambientes virtuais, como o Facebook – são definidos por critérios corporativos, não comprometidos com as mudanças que os indivíduos que vão as ruas esperam ver concretizadas. “Apesar de o (Mark) Zuckerberg estar lá com a plaquinha apoiando o movimento no Brasil, se o movimento tivesse de fato uma pauta de mudança estrutural, ele estaria apoiando o movimento? Não, não estaria”, analisa o pesquisador, referindo-se a uma foto em que o fundados do Facebook aparece com um cartaz de apoio aos manifestantes brasileiros.
Para Araujo, o historiador deve voltar a pensar o presente, como o fez na modernidade. Ele criticou o que chamou de carreiras feitas “dentro de um arquivo”, a excessiva especialização de muitos profissionais desse campo do conhecimento, e a falta de reflexão e de teoria nos trabalhos produzidos. A função básica do historiador hoje, a seu ver, é identificar as experiências do passado que ainda agem sobre o momento atual e que possam enriquecer esse presente “cada vez mais empobrecido de experiência”.
Crítico do programa Ciência Sem Fronteiras (CSF), do qual as Humanidades estão excluídas, Araujo afirma que a História e outros campos afins caminham rumo ao subfinanciamento. Para lutar contra esse quadro, os historiadores precisam tornar evidente a relevância de seus trabalhos, adverte o pesquisador. “A culpa (do subfinanciamento) é nossa. Não adianta só fazer pesquisa empírica e defender dissertação e tese e tocar o barco para a frente. É preciso produzir relevância”, defende. Ele afirma que há uma redução drástica do espaço das Humanidades no sistema escolar. “Cada vez se estuda menos história no ensino fundamental e básico”.